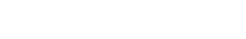Cenário de risco
Cenário de risco
O ex-presidente do BC Armínio Fraga diz que retomada econômica imporá ação firme do próximo governo e defende ajustes para incentivar interbancária
10 ago 2018, 07h00
(Antonio Milena/VEJA)
Armínio Fraga é um “caso raro de profissional que combina pendor acadêmico, esperteza de mercador e vocação de servidor público”. Assim Fraga foi definido por VEJA em um perfil publicado em julho de 2002. Àquela altura, o economista carioca, que assumira a presidência do BC em março de 1999, já havia sido entrevistado nas Páginas Amarelas da revista duas vezes. A serenidade com que debelou autênticas tormentas financeiras fez com que conquistasse o respeito até daqueles que, inicialmente, o olhavam com desconfiança. Apesar dos avanços ocorridos nos últimos tempos, Fraga, de 61 anos, acredita que em certos aspectos os desafios a ser enfrentados hoje são ainda maiores do que os vividos em sua gestão, encerrada em 1º de janeiro de 2003. A economia, analisa, encontra-se em uma “situação de alto risco” e a reação dependerá de um ajuste “muito firme” do próximo governo. “Não dá para brincar”, resume ele. A seguir, sua entrevista.
Em 1999, quando o senhor assumiu a presidência do Banco Central, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, estava em 38% ao ano. Logo depois foi elevada para 45%. Hoje está no nível mais baixo da história, 6,5%. Ainda assim, o país enfrenta uma crise profunda. Como esses dois momentos se comparam?
Lá atrás, quando assumimos o BC, as expectativas de inflação estavam bastante desancoradas, situando-se na faixa de 20% a 50%. O Plano Real encontrava-se ameaçado. A resposta não foi apenas elevar os juros. Tudo começou com o compromisso de fazer um ajuste fiscal significativo. Naquele período, o país tinha também um saldo negativo expressivo nas contas externas. Hoje vivemos algo totalmente diverso: a inflação e a taxa de juros de curto prazo estão baixas, e há tranquilidade nas contas externas, em parte por causa de uma colossal recessão. O problema atual é outro — e muito grande. Ele tem a ver com uma situação fiscal totalmente insustentável. Já são cinco anos de déficit fiscal primário (assim chamado o saldo negativo entre receitas e gastos, excluído o pagamento de juros da dívida pública). Em razão disso, a dívida pública vem subindo rapidamente. Apesar de a taxa Selic estar baixa, os juros pagos pelos títulos públicos de longo prazo são ainda altos, perto de 6% acima da inflação. A economia está muito machucada. Além disso, existe muita incerteza quanto ao que fará o próximo governo. É uma situação de alto risco.
Houve uma grande frustração no crescimento econômico, em relação às expectativas emitidas no início do ano. O otimismo era excessivo?
O governo Dilma se mostrou incapaz de corrigir os rumos da economia, que caminhava para uma crise cada vez mais grave. Com a troca de governo, foi apresentada uma agenda de reformas e a instabilidade passou. Mas no lado político havia riscos. No fundo, estavam no poder as mesmas estruturas e grupos que levaram o país para o buraco. Novos escândalos vieram à tona, novas dificuldades surgiram, e o Brasil voltou a parar. O problema é muito básico: sem confiança não há investimento, sem investimento não há crescimento. Os números não mentem: a taxa de investimentos medida em relação ao PIB está ao redor de 15% a 16%, o nível mais baixo de nossa história. É um quadro que vai exigir uma resposta muito firme e competente do próximo governo. Como existem dúvidas com relação a isso, as coisas não melhoram.
A farra de benefícios do Congresso piora o cenário?
É um delírio completo, os parlamentares estão enfiando a cabeça na areia. Cada um quer abocanhar o seu pedaço. No fundo, é o espelho de nossa cultura e de um sistema político incapaz de agir minimamente de acordo com as necessidades do país. As razões para isso são inúmeras, porém na crise atual destacam-se, além do famoso “mecanismo”, a falta de entendimento a respeito da gravidade da situação e a falta de coesão no poder. Na base do cada um por si, cada um defende o seu — e o todo ficou perdido no meio dessa encrenca. Não tenho dúvida de que o próximo governo vai entrar diante de um desafio imenso. De positivo, vejo apenas um enorme espaço para melhorar…
Em uma entrevista em janeiro de 2007, o senhor afirmou o seguinte: “No governo não basta capacidade técnica. É preciso convencer a sociedade e, em particular, os políticos a tomar decisões difíceis e que muitas vezes não dão frutos a curto prazo. É preciso enfrentar interesses particulares que se contrapõem ao bem do país como um todo. (…) É uma briga inglória”. Como o próximo presidente pode ser bem-sucedido nessa batalha “inglória”?
Ajudaria muito dar sequência à reforma política, de modo a organizar as discussões em torno de programas claros. Ao mesmo tempo, cabe ao governo explicitar quem ganha e quem perde com as suas ações, defendendo assim o interesse da sociedade como um todo. Isso parece fácil; não é, pois significa romper com o sistema atual de parcerias oportunistas, negociadas no varejo.
As pessoas sofreram muito com o desemprego, a queda no padrão de vida, a piora nos serviços públicos. Como exigir delas uma cota adicional de sacrifício para fazer o ajuste nas contas públicas?
Podemos fazer uma analogia com a medicina. Vamos jogar a toalha, abandonar o tratamento no meio do caminho? Claro que não, o caso é grave, mas não é perdido. Existe uma fadiga da população, sim. Especialmente quando as discussões ocorrem em um ambiente confuso. Muitos ainda questionam a necessidade da reforma da Previdência, por exemplo. Vendem a ideia de que não será preciso fazer grandes sacrifícios. Na realidade, as opções são fazer o sacrifício ou mergulhar em um buraco ainda mais profundo. O cardápio é desagradabilíssimo. No entanto, é fruto do que foi feito no passado.
O que pode ser feito, a curto prazo, para injetar otimismo na economia e acelerar a retomada?
Se os assuntos importantes forem encarados de verdade e boas propostas forem apresentadas por um novo presidente eleito com mandato para agir, acredito em uma melhora relativamente rápida na economia. Mas é uma situação frágil. Não dá para brincar.
Por que os custos dos financiamentos e do crediário permanecem tão elevados, mesmo depois da redução expressiva na taxa básica de juros?
A Selic está baixa, contudo os juros de longo prazo continuam altos. Esse é um dos fatores que mantêm os juros elevados na ponta do consumidor final. Mudar isso depende principalmente do ajuste fiscal. Entretanto, é importante enfrentar o chamado spread bancário, a diferença entre os juros que as pessoas e as empresas pagam e os que paga o governo. Reduzir o spread requer uma agenda ampla de ajustes. É um problema grande o suficiente para sugerir a existência de múltiplas causas. Não existe, portanto, uma única resposta, há distorções de toda natureza. Pontos que pareciam resolvidos, como a alienação fiduciária no financiamento de imóveis e veículos e também a lei de falências, na verdade não estão tão bem resolvidos e precisam ser revistos. Mas aperfeiçoamentos desse tipo são naturais, em meio às reformas. Além disso, a adoção do cadastro positivo ajudaria bastante. Deve-se ir adiante com as reformas, como vêm fazendo o Banco Central e o Ministério da Fazenda.
O setor financeiro nacional está bastante concentrado em três bancos privados e dois públicos. A falta de competição é uma das razões para o custo elevado do crédito?
O custo do crédito é tal que não se pode dizer que vigora um ambiente de concorrência. Isso precisa ser levado em conta. Não pode haver ainda mais concentração no sistema financeiro.
“O custo do crédito é tal que não se pode dizer que vigora um ambiente de concorrência. Isso precisa ser levado em conta. Não pode haver mais concentração no sistema financeiro”
Grandes bancos estrangeiros, os quais poderiam contribuir para a competição, deixaram o país nos últimos anos. Por quê?
Em boa medida, porque tiveram dificuldade de replicar a rede de agências dos grandes bancos já estabelecidos. Agora, porém, com as novas tecnologias, parece ser possível criar uma ampla base de clientes sem a necessidade de construir uma rede física de extensão nacional. Podemos estar diante de uma revolução em seu estágio inicial. Se assim for, será extremamente positivo. Para haver concorrência, é necessário um espaço favorável à competição. O BC tem trabalhado com esse intuito. No entanto, obviamente, os grandes e já bem posicionados vão tentar reagir. Eles dominam todos os elos da cadeia financeira. Cabe às autoridades zelar para que não surjam barreiras à concorrência. Manter os juros extremamente altos, do jeito que estão, não é uma opção.
Qual é sua avaliação do futuro das moedas digitais?
Existe um campo fértil para a inovação. O blockchain e as tecnologias de transação são bem-vindos. A moeda eletrônica já está acontecendo. Os pagamentos podem ser feitos pelo celular. Essa evolução, no entanto, não depende da existência de criptomoedas. Essas moedas não têm muita chance de avançar em economias minimamente estáveis e institucionalizadas. São caras e trazem riscos.
O senhor não acredita que a bitcoin e outras criptomoedas possam ter uma função de reserva de valor — um tipo de ouro digital, como dizem seus entusiastas?
Não creio. A valorização dessas moedas tem toda a cara de uma bolha. As oscilações nos preços são muito grandes. Elas não podem ser vistas como reserva de valor, portanto. Além disso, podem ser usadas para financiar o crime e lavar dinheiro. Os criminosos sempre encontrarão maneiras de burlar as autoridades, mas não faz sentido facilitar esse processo.
Publicado em VEJA de 15 de agosto de 2018, edição nº 2595