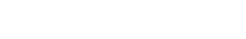O problema não está no Congresso, está na Presidência
O economista Edmar Bacha, de 78 anos, sabe como poucos quanto a transformação da economia brasileira é dependente da articulação política. Após participar do Plano Cruzado, na década de 80, como presidente do IBGE, deixou o governo de José Sarney na esteira da malfadada política de congelamento de preços. Retornou ao Executivo na Presidência de Itamar Franco, quando fez parte da equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Durante a implementação do Plano Real, ia diariamente ao Congresso convencer os parlamentares de que o novo programa teria sucesso. “Governo de coalizão, historicamente, é a única coisa que funciona no Brasil. Toda vez que presidentes tentaram romper com esse princípio, se deram mal”, disse ele a VEJA, em entrevista por telefone, de seu sítio em Teresópolis, na serra fluminense, onde está em isolamento social com a esposa. Autor de mais de dez livros sobre a economia brasileira, ocupante da cadeira número 40 da Academia Brasileira de Letras e diretor do Instituto de Estudos de Políticas Econômicas/Casa das Garças, Bacha é um crítico severo do governo atual, mas elogia medidas como o auxílio emergencial.
Como avalia a administração econômica do governo Bolsonaro durante a Covid-19? A expansão fiscal no Brasil foi bastante elevada em comparação a outros países em desenvolvimento. Por causa disso o Brasil terá um desempenho bastante favorável em relação a nossos pares na América do Sul. A atividade econômica acabou sendo bastante beneficiada pelo auxílio emergencial.
A aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão traz pautas mais populistas à política econômica. Qual o impacto desse movimento? Governo de coalizão, historicamente, é a única coisa que funciona no Brasil. Toda vez que presidentes tentaram romper com esse princípio, se deram mal: desde Jânio Quadros, passando por Fernando Collor e por Dilma Rousseff. O Executivo faz, mas o Legislativo desfaz. Não é só ter o apoio formal, é preciso saber levar as propostas ao Congresso. O Plano Real foi discutido de alto a baixo. Entre dezembro de 1993 e julho de 1994, eu ia ao Congresso todos os dias. Do ponto de vista de estabilidade política, é uma coisa boa, vivemos em uma democracia.
E do ponto de vista econômico? Esta nova legislatura tem sido bem mais reformista, no sentido liberal da palavra, do que o Congresso brasileiro tradicionalmente foi desde a redemocratização. Isso já se manifestava com Michel Temer, e segue assim, com Bolsonaro. Está mais fácil aprovar reformas liberalizantes do que no passado. O problema não está no Congresso, está na Presidência.
Como o senhor avalia as chances de as reformas serem aprovadas? Tem um problema complicado ali: a equipe econômica não tem experiência política nenhuma. Quem tinha já saiu. No nosso caso, o ministro da Fazenda se chamava Fernando Henrique Cardoso, que era um intelectual, sociólogo, mas basicamente um político. Isso facilitava muito a nossa tarefa.
O ministro Paulo Guedes não está certo ao defender o ajuste fiscal? O problema de Guedes é que ele tem muitas ideias fixas erradas, e não larga delas. Por exemplo, a reforma da Previdência poderia ter saído muito melhor não fossem essas propostas malucas que ele estava defendendo, de um sistema de capitalização. A reforma tributária não sai porque ele insiste em retomar a CPMF. O problema dele é esse: não conserta essas ideias, vai levá-las para o túmulo. Por que não aprovar a PEC 45, proposta que tramita na Câmara e que um grupo majoritário de economistas respeitáveis está apoiando? Não sai porque ele não deixa.
A previsão de retração do PIB para o fim do ano melhora a cada semana. O senhor concorda com essas análises? Na verdade, as avaliações iniciais é que estavam muito ruins. Nos primeiros meses, a partir do que acontecia nos Estados Unidos, já se dizia que a retomada seria até certo ponto em “V”, como tem sido. Quando os economistas estavam todos com previsões de queda mais próximas de 10%, eu apontava entre 5% e 10%.
E a previsão de crescimento de 3,5% para 2021 e 2,5% para 2022? Uma coisa é retomar o ponto de partida, do qual já estamos próximos. Agora, com todas essas transformações estruturais que a Covid-19 vai impor, se cria uma incógnita. Além disso, existe o problema maior: as eleições americanas podem perturbar o mundo inteiro. Por causa de fatores externos, o processo está muito obscuro para dizer qual será o ritmo da retomada. Sem contar que aqui dentro temos um problemaço, que é a questão fiscal e que se manifesta na dificuldade do governo de rolar a dívida.
A quais transformações estruturais o senhor se refere? Vamos ter muito mais atividades on-line do que presenciais, e isso traz implicações importantes. Calcula-se que, nos Estados Unidos, até 50% das atividades vão ser afetadas em maior ou menor grau por essa mudança. Isso vai exigir uma transformação muito grande, com impactos fortes no emprego, e não o vejo uma recuperação tão fácil. As empresas aprenderam que podem fazer o mesmo com menos gente. Isso é bom para a produtividade, mas muito ruim para o mercado de trabalho, porque vai exigir uma reestruturação muito forte da economia. As pessoas vão ter de se deslocar de área e adquirir novas qualificações.
A indústria está se recuperando bem, o comércio também, mas os serviços não. Como incentivar esse setor tão importante para a geração de empregos? Há uma solução e ela se chama vacina. Fora isso, o crédito tem de ser facilitado para as empresas com dificuldades. O governo pode garantir que o crédito continue fluindo, por meio de programas do Banco Central e do BNDES.
Quando o Plano Real começou a ser estruturado, a inflação beirava 2 500%. Há um risco real de volta da inflação com a retomada da economia? Estamos muito longe desse cenário. Com esse grau de desemprego que temos, dificilmente a inflação retorna. O que se pode ter é uma mudança muito forte de preços relativos e um empobrecimento das pessoas, porque os preços dos bens que entram no comércio internacional vão continuar altos com esse dólar.
No Plano Real, os focos foram cortar gastos do governo, melhorar a relação do Tesouro com o BC e reorganizar a dívida dos estados e municípios. Como avalia a forma com que isso vem sendo feito atualmente? Muito mal e porcamente. O governo não consegue aprovar suas PECs, manda-as ao Parlamento e depois elas ficam lá, dormindo. A reforma da Previdência já estava bem encaminhada, por isso passou. Desde então, se aprovou a questão do gás, do saneamento, mas o Pacto Federativo, as reformas tributária e administrativa não andam porque o governo não dá uma diretiva clara. A ação do governo no Congresso precisa ser mais bem direcionada.
Algum ponto estava no projeto original do Plano Real e até agora não foi implementado? Além do Fundo Social de Emergência, que depois virou a Desvinculação das Receitas da União, o Plano Real tinha um conjunto de 63 reformas constitucionais que tínhamos a intenção de aprovar. Nenhuma delas foi para a frente, incluindo uma proposta de desindexação geral. Acho esses três “Ds” do Guedes uma coisa boa, desindexação, desvinculação e desobrigação. É algo perfeito, mas precisa fazer acontecer.
Qual a importância de manter o teto dos gastos? O teto força a sociedade a fazer escolhas difíceis que afetam grupos de interesse. Quando se coloca um limite e se diz “não pode passar daqui”, se impõe a necessidade de redistribuição. É uma coisa boa porque, além de serem muito altos, os gastos do governo estão muito mal distribuídos. É um instrumento poderoso para nós, que tradicionalmente mostramos, como sociedade, pouca disciplina na contenção de gastos correntes do governo, o que resulta em uma administração inchada e ineficiente. A reforma do Estado é a prioridade número 1.
Como era a relação com o então deputado Jair Bolsonaro na época do Plano Real? Isso é coisa do passado, as histórias ficaram lá atrás. Bolsonaro votou contra o tempo todo. Mas ele sempre foi isolado no Parlamento. Só tinha uma pauta: as reivindicações da Polícia Militar e dos militares. Ele articulava muito pouco, mudou de partido à vontade. Não era uma pessoa que fazia parte dos processos de negociação.
Que lições o senhor tirou de seu relacionamento com o Congresso para aprovar o Plano Real? Guardei algumas frases que os políticos me diziam. Um dizia: “Ô, Bacha, você é Ph.D. e tudo o mais, mas não vai achando que vai enganar alguém, não. Aqui, o mais bobo foi eleito”. Um outro virava e falava: “A gente gosta de verba, mas o que a gente quer mesmo é palanque e prestígio”. E um terceiro disparava: “Em negociação política, o relógio zera todo dia, nunca dê hoje para pegar amanhã”.
No Plano Real, a privatização foi importante para aliviar gastos. Há espaço para mais privatizações? Dá para privatizar para aumentar a eficiência, mas dinheiro não vai haver muito. Fora a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, não tem muita coisa que valha. Se o Banco do Brasil fosse privado, teríamos um setor financeiro com muito mais concorrência do que a que temos hoje. Baixaria o custo do crédito para a população. Se a Petrobras fosse privada, teríamos haveria muito tempo abastecimento de gás a preço mais baixo.
Em 1974, o senhor criou a expressão Belíndia, descrevendo a desigualdade no Brasil como uma mistura da Bélgica com a Índia. O país melhorou? Piorou. Além da Belíndia, adicionamos outros males, um em cima do outro. Além de Belíndia viramos uma Ingana, termo que Delfim Netto inventou depois de vinte anos para me dar o troco quando fui para o governo, e que significa um país com impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. Em certo ponto, também corremos o risco de marcharmos para aquilo que Mário Henrique Simonsen dizia que seria o Brasil depois da Constituição: uma Banglabânia, mistura de Bangladesh com Albânia. Isso conseguimos evitar. Também viramos uma Rusmala, que é a corrupção da Rússia com a criminalidade da Guatemala.