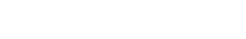O que mudou e o que não mudou com o Plano Real, 25 anos depois
Na sexta-feira 1º de julho de 1994, o país parou. O governo iniciava mais uma batalha contra a inflação — uma guerra que vinha sendo perdida havia duas décadas, desde que a primeira crise do petróleo, de 1973, estimulou a escalada de remarcação de preços. Vinte e cinco anos atrás uma nova moeda entrava em vigor. O que valia 2.750 cruzeiros reais virou 1 real. As agências bancárias ficaram abarrotadas. Aos berros, camelôs nas ruas avisavam que não aceitariam mais os centavos e que todos os preços seriam reajustados para cima. Nos supermercados, as donas de casa deparavam com etiquetas nas duas moedas, umas sobre as outras.
Visto em retrospecto, o Brasil de 2019 não lembra em nada o país de 1994, quando Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda de Itamar Franco, admitiu que os três grandes problemas brasileiros eram, por ordem de grandeza e importância, “em primeiro lugar, a inflação; em segundo lugar, a inflação; e em terceiro lugar, a inflação”. Nas bodas de prata do Plano Real, a economia está no atoleiro e os indicadores macroeconômicos estão todos fora do lugar — a exceção é a inflação.
O tiro certeiro no chamado dragão da hiperinflação — a mais desgastada imagem econômica brasileira — nunca foi um fim em si mesmo. “Era o começo do início do princípio”, lembrou Rubens Ricupero. Embaixador, Ricupero assumiu a pasta da Fazenda em 30 de março de 1994, após FHC se desincompatibilizar para concorrer à Presidência da República — ele virou candidato um mês depois do lançamento da Unidade Real de Valor (URV), transformando os primeiros sinais de sucesso do novo plano econômico em seu palanque presidencial. A batalha começava a ser ganha — ainda que só em 1997 a inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tivesse chegado a um patamar considerado bom: 5,22% ao ano.
Um quarto de século depois, o desalentador índice de desemprego, que atinge 13,1 milhões de brasileiros, corrói o salário médio do trabalhador. O país parou de crescer. Para se proteger da crise, as empresas usam as demissões para reduzir custos, criando um círculo vicioso. Com o real desvalorizado, para adquirir a mesma quantidade de bens e serviços que a mesma nota de 100 reais comprava naquele ano, o consumidor precisa desembolsar quase seis vezes mais: R$ 596,88, segundo cálculo do matemático José Dutra Sobrinho.
Seria impossível, por exemplo, o sociólogo Fernando Henrique tomar café da manhã numa padaria em Higienópolis, bairro onde mora na região central de São Paulo, com apenas R$ 1, como fez, quando era presidente, na comemoração de um ano do Plano Real, em 1995, na Padaria e Confeitaria Peres, no Gama, cidade-satélite de Brasília — que nem existe mais. Faliu. De herói, o pãozinho virou vilão e subiu, de julho de 1994 a maio de 2019, mais do que a inflação acumulada no período: 693% em comparação a 508%. Até o frango, catapultado ao posto de símbolo do Plano Real pela ampliação do consumo, perdeu status . Em 25 anos, o frango acumulou aumento de preço de 454%. As maiores pressões inflacionárias, entretanto, vieram das despesas com habitação, educação e saúde, e cuidados pessoais: 1.017%, 690% e 582%, respectivamente. Sem falar nas passagens de ônibus, que acumularam alta de 1.101% — não à toa, viraram pretexto para levar milhares de pessoas às ruas em junho de 2013, reeditando uma onda de protestos no país, que, naquele momento, se tornaria a maior série de manifestações desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
Quando FHC aceitou virar ministro da Fazenda, o presidente Fernando Collor de Mello havia renunciado para escapar do processo de impeachment. O vice assumira a Presidência e, nos primeiros sete meses de mandato tampão, Itamar acumulara uma lista de três ministros da Fazenda: Gustavo Krause, Paulo Haddad e Eliseu Resende. À época, FHC era chanceler. Voltava de uma viagem ao Japão e pernoitava em Nova York na casa do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Sardenberg. Tarde da noite de 19 de maio de 1993, Itamar ligou para a casa do diplomata, mandou chamar o chanceler e fez o convite. FHC combinou de conversar melhor quando chegasse ao Brasil. Não deu tempo. Itamar tinha pressa — naquele mês, a inflação batera estratosféricos 44%. No dia seguinte, FHC ainda dormia quando recebeu um novo telefonema. Desta vez, de sua mulher, Ruth: “Ela avisava que eu era o novo ministro da Fazenda”, relembrou semanas atrás o ex-presidente a ÉPOCA. A notícia não agradou à família, que era contrária à ideia de FHC virar ministro da Fazenda — um cargo em que ninguém tinha obtido sucesso recente e o fracasso no enfrentamento da inflação poderia levar ao desterro político. Sete meses depois de assumir o cargo, o Plano Real estava pronto. O novo programa de estabilização econômica continha 60 medidas condensadas no Programa de Ação Imediata (PAI).
Em 1993, quando FHC assumiu o ministério, a inflação anual foi de 2.400%. De 1964 a 1994, a inflação brasileira não cabia no visor de uma máquina de calcular: 1.142.332.741.811.850%, o que rendera ao país o posto de recordista mundial no quesito, com um quadro inflacionário crônico e crescente. FHC sabia que seria um trabalho pouco trivial. Sempre que se encontrava com o amigo, economista e ex-ministro Bresser-Pereira, FHC costumava ser questionado sobre o que faria se o Plano Real desse errado: “Não tínhamos plano B”, respondia para surpresa do pai do Plano Bresser — que, lançado em 1987, fracassou no controle da inflação — e vizinho de porta na casa de veraneio em Ibiúna, na Região Metropolitana de São Paulo.
A batalha contra a inflação acabou sendo uma guerra de infantaria. Na trincheira, André Lara Resende, Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pedro Malan e Persio Arida — um quinteto, que contava ainda com o apoio episódico de Clóvis Carvalho e Winston Fritsch. Os pais do Real sabiam o que não podiam repetir: nada de congelamento de preços, confiscos e tablitas — nome popular de conversores de preços. Tudo seria anunciado previamente, inclusive a criação da nova moeda e do indexador, que seria batizado de Unidade de Valor, não fosse a sugestão do publicitário Nizan Guanaes para que virasse URV, Unidade Real de Valor. Para seus mentores intelectuais, acabar com a memória inflacionária era condição primordial para o sucesso do Plano. A chave de ignição para desencadear a amnésia inflacionária foi a URV, uma espécie de moeda paralela que faria a conversão gradativa de preços e dos salários para a nova moeda, sem levar consigo a memória da inflação passada.
O novo indexador entrou em vigor em fevereiro de 1994. Cinco meses depois, completada a transição, a URV dava lugar ao real. Na virada de 30 de junho para o dia 1º de julho, a economia brasileira foi traduzida na seguinte equação: 1 URV = R$ 1,00 = US$ 1,00. As importações foram receitadas como antídoto contra as remarcações de preços. As privatizações fizeram o papel de atrair investimentos externos, fazendo com que os dólares sustentassem o câmbio e cobrissem os déficits comerciais e de serviços nas contas externas. A taxa de juros foi lá para cima — um atrativo a mais para o capital estrangeiro. O governo precisava aumentar receita e cortar despesas. Coube a Bacha colocar um tampão na torneira dos gastos públicos formatando uma emenda constitucional que desvincularia 20% das receitas tributárias da União. Para facilitar a aprovação, acabou recebendo o nome pomposo de Fundo Social de Emergência. “Que de social não tinha nada”, confessou FHC, que incluiu a palavra apenas para seduzir os parlamentares e facilitar sua aprovação no Congresso. E como a adesão ao plano era voluntária, a equipe econômica tinha de persuadir parlamentares no Congresso, empresários, banqueiros, consumidores…
Fevereiro de 1994. Antes do lançamento da URV, o professor FHC foi ao programa de Silvio Santos — a aula aberta entraria para a carreira acadêmica do sociólogo como uma das mais difíceis de sua vida. O ministro ficou 22 minutos no ar. Antes de entrar em cena, encontrou-se com o apresentador no camarim. Enquanto se maquiava, Silvio pediu ao convidado que falasse sobre o Plano. “Eu explicava, e ele pedia: mais uma vez” — a cada repetição, a certeza que o interlocutor não estava entendendo absolutamente nada. Antes de entrarem no ar, a última dica: “Silvio Santos me avisou que a idade mental da plateia era de 12 anos”. Por mais que tenha se esforçado, FHC admitiu, 25 anos depois, que quem melhor traduziu o Plano Real para as “colegas de auditório” foi mesmo o apresentador. Aquela experiência se traduziria, na economia real, numa adesão bastante rápida do consumidor ao indexador e depois à nova moeda — uma surpresa boa para os pais do Real.
A transição da moeda virtual para o novo padrão monetário desencadeou a primeira divergência no grupo, até então coeso. A ideia engenhosa que sustentou o Plano Real nascera uma década antes, quando Arida e Lara Resende escreveram um estudo acadêmico que ficou conhecido como Larida — expressão que une o sobrenome dos dois autores. O ano era 1983, e a dupla, que havia inventado a URV, acreditava que seriam necessários de dois a três anos para o início da conversão dos contratos para uma nova moeda. Gustavo Franco pensava diferente: “O mecanismo funcionou à perfeição, e a URV virou real em quatro meses”. “O processo de adesão foi muito mais rápido do que nós poderíamos ter imaginado quando escrevemos nosso artigo”, reconheceu Arida. Enquanto os dois debatiam, FHC botava mais lenha na fogueira — uma artimanha que aprendera em sala de aula estimulando os alunos a darem o melhor de si.
Sabia que seu bunker contava com dois grupos: o dos neófitos em planos econômicos, como Franco e Malan, e o dos já iniciados no combate à hiperinflação, caso de Arida, Lara Resende e Bacha, que haviam participado do Plano Cruzado. Até hoje, a chamada âncora cambial coloca Franco e Arida em campos opostos. O primeiro defendia um câmbio fixo, o que acabou sendo implementado e levou ao pedido de demissão de Arida, então presidente do BC. “Sem dúvida que a minha proposta era mais arriscada”, lembrou Arida, que defendia o sistema de bandas. FHC chamava os primeiros de PDT, partido do esquerdista Leonel Brizola, e o segundo grupo de PDS — partido de direita, que, com o fim do bipartidarismo, sucedeu à Arena — o que deixava claro que a escolha das siglas tinha o intuito de estimular as discussões à exaustão. Quando foi apresentado ao PAI, FHC lembrou-se de ter visto um programa econômico para as próximas duas décadas e não apenas um plano de combate à hiperinflação. Mas ainda tinha um problema maior para resolver.
Havia seis meses que o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Franco, começara uma negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Só que o FMI não gostou do que ouviu. “O pessoal do FMI não entendeu o Plano Real nem o Larida”, lembrou Arida. À época, o receituário do Fundo era outro: dolarização, como fizera a vizinha Argentina. Ou o Brasil jogava fora seu programa de estabilização e aderia à dolarização como queria o FMI ou nada de dinheiro para pagar as garantias exigidas pelo Plano Brady. Se o programa de estabilização já fora uma ideia genuinamente brasileira, a saída encontrada para driblar a aversão do Fundo ao Plano Real foi ainda mais inovadora. E arriscada. Daí a necessidade de a ideia ser posta em prática da forma mais discreta possível — se é que é possível ser discreto quando o assunto é levantar no mercado internacional US$ 2,8 bilhões. Mas valia a pena tentar, e a estratégia deu certo.
Em 1º de abril de 1994, data-limite da renegociação da dívida externa brasileira, o Brasil apresentou as garantias, passando a ser o último país a fechar acordo e o primeiro a se autofinanciar para ser aceito no Plano Brady. Dias antes, FHC estivera com o gerente-geral do FMI, Michel Candessus: “Ele me disse que não tinha como fazer o Fundo aprovar o Plano, mas poderia encaminhar uma cartinha de recomendação para os bancos credores”. Estava aberto o caminho para tirar o Real do papel, e lá se vão 25 anos…
Como um programa estritamente de estabilização inflacionária, o Plano Real “foi uma experiência extraordinariamente bem-sucedida”, avaliou Malan. Já como parte de um processo de modernização do país, que colocaria o Brasil na rota de crescimento, como havia anunciado FHC, o Plano Real ficou no meio do caminho. A culpa do baixo crescimento e das crises fiscais dos últimos anos é dos sociais-democratas, apontou o dedo o ministro da Economia, Paulo Guedes, em seu discurso de posse. A acusação mexeu com os brios dos pais do Real — todos liberais convictos e, por isso mesmo, alvos de críticas severas da oposição, que, à época da implantação do Plano Real, chamou de neoliberais as ideias defendidas pela equipe econômica. Apesar de o PT e o PDT terem tentado obstruir a sessão de aprovação da Medida Provisória nº 434 que criou a URV, o único voto contrário foi do deputado federal Jair Bolsonaro, então no PPR.
Com a chancela de Guedes, o presidente aparenta ter se convertido, recentemente, ao liberalismo, mas seu passado é a melhor tradução de suas ideias. Quando era parlamentar, Bolsonaro envolveu-se num bate-boca com um colega, o peemedebista Ronan Tito (MG), durante uma das discussões em plenário sobre o novo indexador. Ao ser chamado de demagogo por defender a URV, Tito reagiu: “Nunca cedi às chantagens dos militares, nem quando eles estavam no governo”. Em resposta, ouviu de Bolsonaro: “Se Deus quiser, vamos voltar. Só que teremos guilhotina e não haverá esta bagunça que está aí”.
Para dissipar os entraves ao Plano Real, FHC disse que buscou desideologizar a questão. Os argumentos pró e contra não eram levados para o campo político — o programa de estabilização não se justificava pela defesa intransigente de um modelo liberal. Apesar de ter dado carta branca para FHC, Itamar nunca foi um entusiasta das ideias liberais defendidas pelos pais do Real — era um nacionalista por convicção, enquanto a equipe econômica era defensora de uma agenda pró-mercado. Se dependesse de Itamar, todas as pressões por aumento de salários, de funcionários públicos a militares, teriam sido atendidas — um receituário que ia de encontro a uma realidade onde faltava dinheiro e sobravam despesas.
Itamar preferia manter uma distância regulamentar do time escolhido por FHC. Quando foi obrigado a escolher seu sucessor na Fazenda, optou por Ricupero, então ministro do Meio Ambiente e da Amazônia: “Fui uma espécie de algodão entre cristais”. A expressão foi usada pela primeira vez por um diplomata inglês, quando do surgimento do Uruguai, um Estado tampão disputado entre o Brasil e a Argentina naquela que ficou conhecida como a Guerra da Cisplatina. A comparação fazia sentido. “Cheguei a sugerir que chamasse Bacha ( assessor especial do Ministério da Fazenda ) ou Malan ( presidente do Banco Central )”, disse. Em resposta, Ricupero lembra que ouviu do presidente: “Já examinamos todas as possibilidades, e o senhor é a única alternativa”. Estava dado o recado. Itamar queria um ministro independente, que prestasse contas a ele, e não ao antecessor. Ainda assim, Ricupero lembrou que os maiores embates que enfrentou foram com o próprio presidente Itamar: “Minha função era dizer não”.
Itamar queria mesmo era ver o Cruzado reeditado — mais um plano que começara dando certo, mas acabou fracassando. À época, o governo não reduziu seus gastos, a demanda cresceu e, rapidamente, o consumo explodiu. O desabastecimento foi geral e irrestrito. O governo apelou, lançou mão do confisco e saiu desapropriando boi no pasto. Não deu certo. “Calejado pela experiência do Cruzado, insisti na adoção de uma moeda paralela indexada, a URV, e só após um período em que a consolidação fiscal estivesse garantida, sua efetiva transformação na moeda nacional”, explicou por e-mail Lara Resende. Apesar de não concordar, Itamar nunca passou por cima de FHC ou de Ricupero, que chegou a desobedecer, por várias vezes, a ordem que vinha de cima.
Itamar queria a cabeça de Murilo Portugal, então secretário do Tesouro. Sensível às pressões por aumento de salário, Ricupero explicava que cabia a Portugal garantir uma situação fiscal razoável — como hoje, o Orçamento era contingenciado. Muitos dos embates com Itamar ocorriam numa sala anexa a seu gabinete no Palácio do Planalto, onde costumava repousar, sempre que era obrigado a ficar despachando até mais tarde. Era lá, numa sala contígua, que Itamar se sentia seguro, e talvez protegido pelas imagens de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Teresinha que adornavam o ambiente.
Às vésperas da publicação da MP da URV, FHC chegou a entregar os pontos. Pediu demissão num domingo, véspera da publicação no Diário Oficial do novo indexador. Reunidos com Itamar, o então ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o ministro do Trabalho denunciavam que o cálculo de conversão dos salários promoveria arrocho salarial — ambos queriam que a conversão fosse feita pelo pico dos salários em cruzeiros reais, e não pela média, como defendia a equipe econômica. Civis e militares juntos contra o cálculo de conversão dos salários para o novo indexador. A reivindicação contava com o apoio silencioso de Itamar. Só que o pedido de demissão fez Itamar recuar. Até hoje, avaliou Malan, o país não aprendeu a fazer uma das operações aritméticas mais simples: a soma. E completou seu raciocínio: a PEC do Teto de Gastos só vai funcionar se aprovada a reforma da Previdência: “No Brasil, as despesas vão se adicionando, e nem sempre a soma dos desejos é compatível com a receita”.
Depois de sobreviver a uma sucessão de crises externas, Gustavo Franco defendeu que o país precisa “recuperar o ímpeto reformista do Plano Real”. Bacha foi mais enfático. Qualificou a situação como dramática: “Estamos com a renda per capita 10% abaixo de 2014, e sem perspectivas”. E completou: “Se o Bolsonaro quiser ser reeleito, ele vai ter de resolver a forma como se relaciona com o Congresso. A questão é saber se vai resolver antes ou depois de uma crise ainda maior que a atual”. Malan, por sua vez, disse que não tem escapatória: “O ajuste fiscal é um dever de casa que ainda não foi feito”.
“Enquanto no Real apostávamos numa comunicação construtiva, hoje as causas abraçadas pelo governo Bolsonaro são, intrinsecamente, destrutivas”, avaliou Ricupero. Em seguida, citou a destruição de reservas florestais, a liberação de armas e até a suspensão da obrigatoriedade do uso de cadeirinha para bebês nos carros, prevista no Código de Trânsito Brasileiro: “Fica um carma pesado”. A falta de perspectiva hoje é uma reedição do sentimento que dominou o país no período pré-Plano Real. À época, o programa de estabilização da economia deu um choque de otimismo no país. “Pena que não conseguimos aprovar a reforma da Previdência”, lamentou Arida. A derrota se deu por um voto errado do então deputado federal Antonio Kandir (PSDB), o que acabou contribuindo para a vitória da oposição. Vinte e cinco anos depois, a aprovação desta que é considerada a espinha dorsal do crescimento está saindo caríssima. “Está saindo mais caro do que sairia normalmente”, disse Bacha, acrescentando que vem saindo “muito custoso em termos de ajuste fiscal”.
Desatar o nó do crescimento não é tarefa fácil nem consensual. Lara Resende vem escrevendo artigos defendendo uma saída que alguns de seus pares consideram controversa. Em recente artigo no jornal Valor Econômico escreveu: “A economia não dá sinais de que sairá tão cedo do atoleiro em que se encontra. Há consenso de que as finanças públicas estão em frangalhos. Embora os diagnósticos sejam praticamente consensuais, há discordância quanto à melhor forma de enfrentar e repor a economia nos trilhos. Sustento que a opção por equilibrar o Orçamento a curto prazo é um equívoco”. Nessa visão, os cortes, em vez de austeridade, alimentariam a recessão. Poucas vozes saíram em sua defesa, da mesma forma como aconteceu quando lançou o plano Larida, segredo do sucesso do Plano Real. Se a questão da inflação está superada, o debate sobre a retomada do crescimento econômico segue aberto.