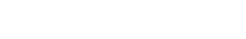Aprendizados tardios
“Equilibrar o orçamento é como ir para o céu: todos querem ir, mas ninguém quer fazer o que tem de ser feito para chegar lá.”(Phil Gramm, político norte-americano)
“Todos são favoráveis a uma economia geral e a uma despesa particular.” (Anthony Eden, político britânico)[1]
O enredo orçamentário é a espinha dorsal da política econômica de qualquer democracia séria. O equilíbrio, ou desequilíbrio, nas contas públicas é o resultado desse debate, talvez mais frequentemente um embate, entre Legislativo e Executivo.
Nossos ritos para o enredo, bem como o olhar de Brasília sobre o equilíbrio, nunca foram muito bons. O viés inflacionista é forte, está na nossa origem, mas as coisas mudaram demais nos anos recentes. Muita gente nem reparou.
Historicamente, prevaleceu a displicência sobre os ritos e a indiferença quanto ao equilíbrio. Ou pior. Era forte uma tese pela qual o equilíbrio fiscal, e por consequência a responsabilidade fiscal, era uma construção ideológica e um limitador às nossas possibilidades de futuro.
Mas esse paradigma colapsou pelo efeito combinado da hiperinflação, e certo tempo depois, pelo impeachment de Dilma Rousseff, em cuja raiz se destacava o descaso quanto aos ritos da política fiscal.
A responsabilidade fiscal virou lei, e, portanto, obrigação da qual não se pode fugir sem graves consequências. Muita gente nem reparou.
É claro que os ritos, além de obrigatórios por lei, não existem apenas em razão de seu aspecto burocrático e cerimonial: as restrições ao poder de gastar (e de se endividar) do Executivo são parte muito importante da organização de uma democracia adulta.
O Orçamento Público é uma instituição tão importante quanto a separação de poderes, e talvez não seja inteiramente coincidência que, em novembro de 2023, esses dois assuntos tenham esquentado.
Simplificando uma trama política de altíssima octanagem observada em novembro, o Legislativo reagiu ao que se conhece como “ativismo judicial”. O Senado aprovou em dois turnos a PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas em tribunais superiores. O texto recebeu somente 18 votos contrários, ante o apoiamento de 52 senadores, incluindo do líder do governo, Jaques Wagner (PT), que votou contra a orientação do PT na Casa.
Seguiu-se uma crise política de alta temperatura e curta duração. Afastados os excessos verbais, a vida seguiu, e os poderes da República estão corretos em observarem-se uns aos outros. Para isso existem.
Novembro termina com o presidente indicando para o STF o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, magistrado de carreira, e ex-secretário do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – e ex-governador do Maranhão. E para a PGR, Paulo Gustavo Gonet Branco, sub-procurador do MPU dito de perfil conservador.
Ambos os nomes foram bem recebidos, tanto no STF quanto no Senado, e seguirão provavelmente sem percalços o rito da sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça antes de suas respectivas nomeações.
De volta aos assuntos fiscais, é interessante notar que o presidente e sua equipe econômica parecem estar aprendendo sobre os enredos orçamentários e sobre equilíbrio fiscal. O enredo de um “bildungroman” (romance de formação) não caberia para um presidente em seu terceiro mandato.
Mas nunca é tarde para a virtude.
Maturidade nos assuntos fiscais
Quem conversa com as autoridades, e passeia pelos corredores de Brasília, tem a sensação de que terminou uma mocidade romântica, meio juscelinista, pela qual o governo acreditava na infinita flexibilidade de suas ferramentas de estímulo fiscal (via orçamento, bancos públicos, estatais, CMN, etc.) bem como na tese heterodoxa sobre a irrelevância do equilíbrio fiscal, e mesmo da desimportância da inflação.
O que vem depois da superação dessa mocidade – sobretudo em vista do fato de que as instituições monetárias foram consideravelmente aperfeiçoadas depois de 1994 – seria a missão de (re) construção ou reforço institucional da política fiscal, e sobretudo do orçamento. Mas, infelizmente, nesse terreno, os avanços têm sido bem modestos.
Essa agenda poderia perfeitamente estar contida nas prioridades declaradas do ministro Haddad, a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Mas não foi o caso, ao menos a julgar pelos primeiros onze meses de governo.
A reforma tributária vai avançando, ainda que com concessões que retiram um tanto de seu brilho. Há certo caminho a percorrer até a versão final, mas o que já se pode dizer, antes de ver o a versão sancionada, é que o assunto se revelou muito difícil e desgastante.
Não apenas o tema contém um enorme conteúdo federativo, como também é verdade que não possui DNA petista. Para começar, é uma “reforma” (era, inclusive, parte do chamado “Consenso de Washington”) e parte da pauta de melhoria do “ambiente de negócios”, portanto, assunto duplamente estranho ao PT.
A reforma dos impostos de consumo não se mistura com a tributação progressiva, nem com debates distributivos, senão de forma muito indireta. Pode-se dizer, inclusive, que a reforma tributária drena um tanto das energias políticas que poderiam ser empregadas em pautas tributárias mais tipicamente de esquerda.
O “arcabouço”, por sua vez, também não era um tema “puro sangue”, ou uma tese abraçada pelo petismo. A oposição ao “Teto de Gastos” era, em primeiro lugar, birra com Michel Temer, e em segundo lugar, inflacionismo armazenado.
Não vieram do campo petista ideias muito concretas de aperfeiçoamento do Teto ou de limitações ao crescimento exagerado do gasto primário. Menos ainda sobre aprimoramentos no Orçamento. O petismo, e a esquerda brasileira em geral, ainda encontra dificuldades para se adaptar à ideia de responsabilidade fiscal.
O que veio, diante de tantas dúvidas, foi o “arcabouço”, e por força do mandamento da PEC da Transição, que determinava (em seu artigo 6) que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, projeto de lei complementar com o objetivo de “instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico”.
Era um enunciado vago, e um tanto dissonante do DNA petista. Muitos imaginaram que viria uma nova lei das finanças públicas aperfeiçoando o processo orçamentário brasileiro. Do Senado vinha um texto pronto sobre o assunto.
Mas não foi isso o que o governo trouxe quando apresentou o “arcabouço”: o PLP93 foi apresentado em abril, e aprovado em agosto, para, em seguida, se tornar a Lei Complementar 200 de 2023.
A percepção sobre o compromisso do governo com as metas sabidamente ambiciosas do “arcabouço” foi decrescendo com o tempo até que o próprio presidente da República pareceu confirmar os diagnósticos mais negativos sobre esse “novo” regime fiscal, “um mal disfarçado esquema de expansão fiscal inconsequente”, nas palavras do professor Rogério Werneck, da PUC-Rio[2].
O mês de novembro assinala o retorno do tema do contingenciamento de gastos, assunto de alta voltagem política, o que apenas se compreende quando se nota que não vai bem a “pauta” de aumentos de arrecadação minimamente necessários ao menos para “perder por pouco” a meta do arcabouço.
O ministro parece à vontade em muitas teses tributárias difíceis, mas que servem ao marketing político (e. g. tributação dos “super-ricos”). A falta de programa, e a necessidade de fechar as contas, levou o ministro a se deixar capturar pela Receita e assim deteriorar a qualidade de suas iniciativas de natureza fiscal.
Como ilustração para as contradições em que se vê enredado o ministro, note-se que o arcabouço “determina” uma expansão do gasto primário e, ao mesmo tempo, uma redução do déficit. É claro que essas duas coisas somente podem ocorrer simultaneamente se a receita crescer. Se isso não acontecer, o que vai se passar? Qual a determinação que vai prevalecer? A do gasto ou a do equilíbrio fiscal (na forma da lei de reponsabilidade Fiscal, que também é lei complementar)? São ponderáveis os riscos de desobediência aos ritos da política fiscal?[3]
O presidente vetou a prorrogação da desoneração de impostos de Dilma Rousseff, uma decisão difícil, como tem sido o trâmite de medidas de aumento de imposto no Congresso. Na mesma linha, falou-se abertamente de contingenciamento de gastos, o que estaria a indicar alguma revisão na política fiscal. A penúria de recursos é um fato da vida, e o descontrole fiscal não é mais uma opção, como no passado.
Sem novidade na política monetária
Não houve surpresa na política monetária: o COPOM, em sua reunião no primeiro dia de novembro, reduziu a SELIC em 0,5% para 12,25%, e não se espera nada diferente para a última reunião do ano, prevista para 12 e 13 de dezembro.
O comportamento da inflação foi mais benigno do que se esperava, o que se confirmou ainda dentro do mês de novembro, com a publicação do IPCA-15 mostrando variação de 0,33% no mês e 4,84% no cumulado de 12 meses. Esse parece ser o padrão para os próximos tempos, acima da meta, mas dentro do intervalo de tolerância (que está limitado, por cima, em 3,5% +1,5% = 5% para 2023). Para 2024, o intervalo de tolerância tem limite superior em 4,5%, mas o FOCUS exibe expectativas em 3,91%, maiores que a meta, embora menores que a tolerância.
O estado do mercado de trabalho – melhor do que se imaginava – trouxe um debate curioso sobre o “produto potencial”, que poderia ser maior do que se imaginava. É claro que isso afeta as estimativas sobre a taxa neutra, ou sobre onde será a “taxa terminal” desse ciclo de baixa, um debate difícil, com data marcada para meados de 2024, lá pela terceira ou quarta reunião do ano.
A Autoridade Monetária não deixou de repetir o alerta pelo qual o descontrole da política fiscal ensejará uma resposta da política monetária no campo contracionista. Oxalá não seja necessária, e tampouco que venha a crescer a tese pela qual essa possibilidade possa ser afastada por um nome heterodoxo para substituir Roberto Campos Neto.
Mas esses são problemas para meados do ano que vem.
[1] Colhidas em G. H. B. Franco & F. Giambiagi (orgs.) Antologia da Maldade: um dicionário de citações, associações ilícitas e ligações perigosas Rio de Janeiro, Zahar, 1025, p. 93.
[2] “O Arcabouço fiscal como ele é” O Globo, 10/11/2023.
[3] A pergunta é feita exatamente nesses termos por Marcos Mendes e Marcos Lisboa em “Sobre o limite de despesas no Arcabouço Fiscal” em Brazil Journal 22/1//2023.
*Gustavo Franco é sócio-fundador da Rio Bravo Investimentos e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Este artigo faz parte da Carta Estratégias de novembro relatório mensal distribuído pela Rio Bravo a seus clientes e reproduzido com exclusividade pela EXAME Invest.