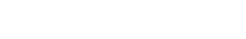Controvérsias sobre a distribuição de renda no Brasil
Nos modelos contemporâneos, o salário mínimo atua como uma restrição à política salarial das empresas e afeta diretamente a distribuição dos salários em equilíbrio
Valor
No início dos anos 1970 houve um caloroso debate sobre as causas da concentração da distribuição de renda no Brasil na década de 1960, que inclusive deu origem a minha fábula de 1974 sobre o reino de Belíndia. Simplificando ao extremo, o confronto foi entre autores, especialmente Carlos Langoni, que sustentavam que a concentração se deveu ao comportamento da oferta e da demanda de mão de obra por níveis de educação, e outros autores, Albert Fishlow notadamente, que apontavam para a importância da repressão salarial, especialmente do salário mínimo.
Em resenha sobre o debate, Lauro Campos e José Guilherme Reis sugerem que os argumentos de Langoni e Fishlow seriam antes complementares do que antagônicos. Não obstante, me parece que, na avaliação acadêmica, Langoni levou a melhor. Basta observar o sintomático título de artigo de Francisco Ferreira sobre o debate: “Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: luta de classes ou heterogeneidade educacional?”. Karl Marx ou Gary Becker?
Ou seja, na avaliação acadêmica Langoni argumentava dentro dos cânones da teoria neoclássica então aceita: o salário real é determinado pela produtividade marginal do trabalho que varia segundo a qualificação (i.e., educação) dos trabalhadores. Portanto, é o comportamento da oferta e da demanda por níveis de qualificação que determina a distribuição da renda salarial. Já os críticos, como Fishlow e este autor, quando ressaltávamos o papel da repressão salarial pelo governo militar, argumentávamos a partir de hipóteses dissociadas da teoria econômica dominante e dos métodos empíricos – derivados da teoria do capital humano e estilizados nas equações de Jacob Mincer de determinação dos rendimentos – então aceitos na literatura.
Atualmente, há um debate similar a respeito da desconcentração da distribuição de renda entre 1996 e 2012. Novamente, estão em pauta a educação e o salário mínimo. Só que – além do ambiente político bem mais tranquilo que os conturbados anos 1970 – o contexto teórico e a análise empírica mudaram. O paradigma dominante sobre o mercado do trabalho deixou de ser o modelo neoclássico, em benefício de modelos como os de busca e acasalamento, que admitem diversas fricções, e nos quais, dentro dos limites impostos pela produtividade, os salários reais são determinados por barganhas entre empregados e empregadores ou pelas políticas salariais das empresas.
Importante nesses modelos é o abandono da hipótese da firma representativa e o reconhecimento da heterogeneidade das firmas empregadoras, por vezes com poder monopsônico. Isto abre espaço para um efeito-firma, em princípio independente das características dos empregados, na determinação da distribuição dos rendimentos na economia. Ou seja, trabalhadores idênticos recebem salários diferentes dependendo das firmas em que trabalham. Essa importante qualificação não constava dos debates dos anos 1970, mesmo porque não havia dados que ligassem trabalhadores a firmas.
Nesses modelos contemporâneos, o salário mínimo atua como uma restrição à política salarial das empresas e afeta diretamente a distribuição dos salários em equilíbrio. Em consequência, o debate sobre os papéis relativos da educação e do salário mínimo se dá no âmbito de um mesmo corpo teórico e metodológico, ao contrário do que ocorria na década de 1970.
Na literatura recente, cabe especial menção a artigo de Jorge Alvarez e coautores, sobre as firmas e a queda da desigualdade no Brasil, publicado no American Economic Journal: Macroeconomics, em 2018. Este artigo documenta o papel dominante da redução das diferenças entre os salários pagos pelas firmas para a queda na desigualdade no Brasil entre 1996 e 2012.
Por sua vez, no principal artigo da American Economic Review de dezembro de 2022, sobre evidências para o Brasil da desigualdade de rendimentos e o salário mínimo, Niklas Engbom e Christian Moser propõem ter sido a elevação do salário mínimo a principal razão para a redução da dispersão dos salários entre as firmas.
Os resultados de Engbom e Moser são, entretanto, qualificados em recente texto de Daniel Haanwinckel, em vias de publicação na American Economic Review. Usando um modelo mais completo e com atenção a mercado locais de mão de obra, Haanwinckel confirma a importância do salário mínimo para a redução da desigualdade, mas também ressalta a importância de mudanças na oferta e na demanda de mão de obra por níveis de qualificação. Ademais, ele argui que, embora o salário mínimo reduza a desigualdade salarial no setor formal, parte dessa redução deriva-se de efeitos de perda de emprego concentrados nos trabalhadores menos qualificados nas regiões mais pobres do país.
O foco desses artigos é o setor formal, pois somente nele é possível, com os dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), parear trabalhadores com firmas. Análises pertinentes ao setor informal têm que usar os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) que não identificam as firmas empregadoras, e assim não podem estimar um efeito-firma. Neste contexto, há dois textos para discussão ainda não publicados que chegam a resultados distintos sobre o efeito do salário mínimo sobre a distribuição de renda.
Em artigo de 2021, Ellora Derenoncourt e coautores apresentam evidências de que os aumentos do salário mínimo foram equalizadores e não deslocaram trabalhadores do setor formal para o informal. Mas em outro texto, cujo versão mais recente é de 2023, Rafael Parente argui que, quando se faz uma análise com diferenciação regional, se observa um significativo aumento da informalidade nas regiões mais pobres em resposta a aumentos do salário mínimo. Esse efeito de deslocamento da mão de obra para o setor informal, em que, segundo os dados do autor, o salário mínimo exerce efeito desequalizador, teria sido forte o suficiente para mais do que compensar seu efeito benéfico sobre a distribuição de salários no setor formal da economia.
Permanecem, assim, questões em aberto, mas a pergunta que me ocorre é qual teria sido o resultado da controvérsia sobre a distribuição de renda na década de 1960 se, ao invés das parcas informações dos Censos de 1960 e 1970 – recordo-me de Mario Henrique Simonsen dizendo que nunca havia visto tanta controvérsia em cima de tão pouca informação estatística -, o debate pudesse ter sido feito, como atualmente se faz, a partir dos abundantes dados da RAIS, da PNAD e da PIA (Pesquisa Industrial Anual), e com os avanços teóricos e metodológicos que a economia do mercado de trabalho experimentou desde então? Sou suspeito para avaliar, mas minha impressão é que Langoni não mais teria sido considerado pela academia como vencedor daquele debate.