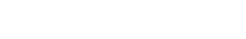De pastores e competências
A revelação de que dois pastores amigos do presidente cobravam uns trocados para liberar recursos do Fundo Nacional de Educação, FNDE, tomou conta do noticiário durante dias e provocou a queda do Ministro. Mas ninguém se deu ao trabalho de explicar o que é e como funciona este Fundo, que maneja 50 bilhões de reais ao ano. Uma outra notícia, a da aprovação, pelo Ministério, de uma desastrosa proposta de alteração do Exame Nacional do Ensino Médio, que pode afetar o futuro de milhões de jovens nos próximos anos, passou totalmente desapercebida. É assim que a educação brasileira não anda: gasta-se enorme energia discutindo os detalhes, e ignora-se as questões maiores.
O FNDE é uma autarquia que administra e repassa recursos obrigatórios para estados e municípios, como o Fundeb, o crédito educativo (FIES) e os recursos do salário educação, e executa um enorme varejo de programas, como os de livros didáticos, transporte escolar, dinheiro direto nas escolas, alimentação escolar, construção de prédios e outros. Vários bilhões são classificados como “transferências voluntárias”, e dependem, para ser liberados, do bom entendimento entre a direção do Fundo e os governadores e prefeitos. Não é à toa, e não é de hoje, que o Centrão sempre teve interesse em controlar o FNDE. Precisamos mesmo de uma autarquia como essa? Não seria melhor, simplesmente, transferir os recursos da educação básica diretamente para as redes escolares carentes, em função de critérios de equidade e desempenho, ou inclui-los no FUNDEB, e tirá-los das mãos dos políticos? É isso que precisaria ser discutido.
Sobre o novo ENEM, o Conselho Nacional de Educação desenvolveu recentemente um projeto bastante razoável, alinhado com o que ocorre no resto do mundo, em que os alunos que se destinam a cursos superiores seriam avaliados conforme as grandes áreas de orientação profissional – tecnologia e engenharia, ciências biológicas e da saúde, profissões sociais, humanidades. Se bem executada, a proposta poderia ajudar a dar um rumo à reforma do ensino médio, que se arrasta há anos, já que as escolas seriam levadas a se organizar para preparar os estudantes para estes exames. No entanto, o Ministério da Educação preferiu adotar um projeto prolixo e inexequível que combina cinco “eixos estruturantes” (investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo) com quatro estranhos “itinerários formativos”: linguagens, que vão do português à dança, passando por informática; ciências naturais, que vão da física à biologia molecular, mas excluem as engenharias; ciências sociais e humanas, que vão da sociologia à filosofia, mas excluem economia e direito; e matemática, que, Deus sabe porquê, fica sozinha. Mais ainda, na proposta do MEC os estudantes teriam que escolher um bloco de dois itinerários, em quatro combinações das seis possíveis, o que forçaria as escolas de ensino médio a montar diferentes programas de estudo combinados. Teria sido uma oportunidade para o CNE publicar sua proposta, em um texto claro e simples, livre de jargão jurídico e pedagógico, firmando posição e abrindo um debate que seria de grande importância para quando tivermos um governo que queira fazer algo em relação a isso. Mas o CNE preferiu colocar sua proposta na gaveta e endossar a que veio da burocracia ministerial. Se é para fazer isto, para que mesmo serve este Conselho?
Tanto o parecer engavetado do CNE quanto o modelo aprovado pelo MEC preveem dois dias de prova, uma de tipo geral, para todos os candidatos, e outra específica, à escolha de cada um, em um conjunto de quatro. A ideia, nos dois casos, é que esta primeira prova avalie os conhecimentos ou competências próprias da parte geral do ensino médio, que, em princípio, seriam aquelas definidas pela base nacional curricular comum. No parecer do CNE havia a indicação de que esta prova deveria se aproximar do modelo do PISA, o exame da OECD utilizado internacionalmente para avaliar estudantes aos 15 anos, ao final do ensino fundamental, em competências gerais de leitura, matemática e ciências. Isto é muito diferente do que o MEC pretende fazer, que é avaliar todo o conteúdo desta parte geral. Na linguagem gongórica da apresentação divulgada pelo MEC, “as competências previstas na BNCC serão articuladas como um todo indissociável, fortalecendo as relações entre os saberes, conforme artigo 11 da Resolução do CNE nº 3, de 21 de dezembro de 2018, inseridas no contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural, do mundo do trabalho e da prática social, a partir de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala regional e global”.
Seria muito importante ter, no Brasil, uma prova semelhante ao PISA, mas ao final a educação fundamental, que é quando todos os estudantes precisam consolidar os conhecimentos e competências básicas em linguagem, matemática e ciências. Seria uma adaptação do atual SAEB, com a diferença de que os resultados fariam parte do currículo dos estudantes. Isso funcionaria como um forte incentivo para melhorar a qualidade do ensino fundamental II, que é a parte mais precária da educação pública brasileira, e os resultados poderiam servir de instrumento para orientar os estudantes em suas opções para o ensino médio.
A ideia inicial da reforma do ensino médio foi que, como na prática muitos estudantes chegam ao ensino médio sem esta formação consolidada, então deveria haver ainda uma parte comum de formação que cumpriria este papel. Mas deveria ser uma parte pequena, porque, neste nível, esta formação deveria ser consolidada no contexto das diferentes áreas de estudo dos alunos. No entanto, no processo de discussão do projeto de lei, o Congresso acabou inchando esta parte, que pode chegar a 60% do total das horas de estudo, mutilando assim o sentido original da reforma
A proposta do CNE significaria, na prática, criar uma prova semelhante ao antigo ENEM, quando ele ainda não tinha sido transformado em um exame vestibular nacional, o que tem sua lógica, embora a rigor ela devesse ser feita ao final do ensino fundamental. Já o que o MEC pretende fazer é totalmente sem sentido, a começar pelo fato de nenhuma resolução de ninguém consegue juntar todos os conhecimentos e competências em um “todo indissolúvel”, e não é possível medir esta grande quantidade de dimensões diferentes em uma mesma prova. A técnica utilizada hoje para a elaboração destas provas, a chamada “teoria de resposta ao item”, supõe que as provas contenham vários itens, ou questões, com níveis diferentes de dificuldade, que estejam alinhadas a uma mesma dimensão, e sejam extraídos de uma grande coleção de itens equivalentes devidamente testados e ponderados que possam ser substituídos nas provas a cada ano, mantendo a comparabilidade dos resultados. Se eu quiser medir três coisas diferentes, como capacidade de leitura, raciocínio matemático e raciocínio científico, preciso de três provas distintas, que podem até ser feitas no mesmo dia, mas não há como ir muito além disto. Este mesmo problema afeta a proposta do MEC em relação às provas do segundo dia, que deveriam medir os cinco “eixos estruturantes”, cada um com duas ou três partes, chegando a um total de 11 dimensões em cada um dos quatro “itinerários formativos”. O papel aceita tudo, mas no mundo real não há como desenvolver um banco de itens apropriado para medir tudo isto e espremer tudo em uma prova única.
Nem o parecer CNE nem proposta do Ministério da Educação avançam na questão da avaliação dos alunos que optarem pelo ensino médio técnico, ou profissional. Os dois tentaram uma porta dos fundos para trazer para o exame as pessoas que não se prepararam para ele. O CNE não propõe um exame separado para estes cursos, inclusive porque podem ser centenas, mas diz, enigmaticamente, que os alunos destes cursos “deverão prestar as mesmas provas dos egressos de itinerários acadêmicos, preferencialmente organizadas em áreas profissionais e carreiras que dialoguem com as formações dos itinerários profissionalizantes”. O Ministério da Educação propõe um sistema complicado e arbitrário de “pontos” que as universidades poderiam atribuir aos alunos dos cursos técnicos que tenham feito somente a prova do primeiro dia, ou não se saído bem na prova do segundo. Mas a grande maioria dos que fazem cursos técnicos de nível médio não pretende ir para a universidade, e sim obter uma qualificação valorizada no mercado de trabalho (os que pretendam e tenham condições podem sempre fazer o ENEM, independentemente das opções que tenham feito até ali). O que eles necessitam é de um sistema robusto de certificação de competências profissionais desenvolvido em parceria com o setor produtivo, que poderia começar com algumas profissões mais demandadas, e ir se ampliando progressivamente. O ensino técnico não pode ser um beco sem saída, e para isto é preciso ampliar a oferta de cursos superiores curtos (que no Brasil recebem o nome de “tecnológicos”) que possam dar sequência à formação profissional de nível médio para quem queira continuar sua formação. Mais amplamente, é necessário ampliar as possibilidades de educação pós-secundária para pessoas que venham de trajetórias mais profissionais e menos acadêmicas. Mas esta é uma questão que tem a ver o ensino superior brasileiro como um todo, que não pode ser resolvida no ENEM.
Há mais de dez anos que eu e outras poucas pessoas vimos escrevendo sobre os equívocos que começaram com a Base Nacional Comum Curricular, se desdobraram nas deformações introduzidas na reforma do ensino médio, e culminam agora nesta proposta do Novo Enem. O que defendemos é o que se faz em todo o mundo onde a educação funciona. Ninguém contesta, mas a burocracia pedagógica segue impávida em sua falta de rumo.
A questão central é que a educação não pode ser pensada como o acúmulo de habilidades ou competências separadas, mas como a transmissão e desenvolvimento de culturas que combinam conteúdos e práticas de forma viva e significativa. Se eu juntar um sistema digestivo, um sistema respiratório, um cérebro etc. eu, no máximo, construiria um Frankenstein, nunca uma pessoa. Da mesma forma, não se aprende uma língua decorando regras gramaticais e taxonomias de estilos literários, mas interagindo, falando, lendo, escrevendo, e depois analisando; e não se formam bons profissionais com aulas de empreendorismo e processos criativos, mas com o desenvolvimento e apropriação integrados de conhecimentos, práticas e valores das diferentes áreas de atuação. O que se deve buscar na educação não é substituir o ensino burocrático e tradicional dos currículos de química, biologia, história e geografia por competências genéricas vazias, mas dar aos estudantes condições e oportunidades para absorver e fazer parte da cultura viva e rica de conteúdos que começa com a linguagem e o uso dos números e culmina nas diversas áreas de formação acadêmica e profissional. Para ser um físico, um economista, um advogado ou um programador, não basta acumular os conhecimentos e as técnicas próprias de cada campo, mas incorporar também um conjunto de maneiras de trabalhar, pensar e conviver que só se aprende em contato quem já atua nestes campos e serve de modelos e referências. Não é uma coisa rígida, novas culturas técnicas e profissionais estão sendo todo o tempo criadas, recombinadas e transformadas, mas sempre a partir de uma base de conhecimentos e práticas anteriores, e não de forma arbitrária, a partir de um catálogo de competências ou habilidades.
Parece óbvio, e a grande dúvida é por quê que tanta gente é contra, ou indiferente. Minha explicação é que manter e desenvolver a cultura viva é muito mais difícil do que persistir na rotina do ensino burocrático, que continua a mesma quando se pretende substituir as matérias enlatadas pelas “competências” da moda. Da mesma maneira que se prefere o varejo das verbas federais administradas pelo Centrão ao compromisso e responsabilidade com os resultados da educação.