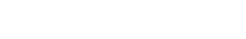R$ 1 tri em privatização é ficção eleitoral, diz criador do programa de desestatização
Para Luiz Chrysostomo, 58, diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças e um dos criadores, no início dos anos 1990, do PND (Programa Nacional de Desestatização), os 30 anos de privatização no Brasil compõem um dos mais bem-sucedidos programas de reforma do Estado do mundo ocidental.
Coordenador da venda da Telebras em 1998 e com atuação em 49 privatizações e concessões, dentro e fora do governo, Chrysostomo afirma que a próxima fronteira na área é aprimorar o modelo institucional a partir do fortalecimento das agências reguladoras —que, em muitos casos, sofrem hoje de um “vácuo de quadros”
“Quando quebramos o monopólio público, o que se quer é competição e eficiência. Sem isso, temos a maior perversidade que existe, que é a transferência do monopólio público para o privado.”
Ele afirma ter dúvidas de que os dois principais candidatos nesta eleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), darão prioridade ao aperfeiçoamento institucional na área.
“Infelizmente, pois isso está ligado a um novo momento de crescimento do Brasil, que só avançará com uma infraestrutura modernizada. E o novo ciclo de investimentos não será estatal. Tem de ser privado”, afirma.
Como avalia os 30 anos de privatização e concessões no Brasil, período em que a maior parte dos ativos importantes, como telefonia, energia, rodovias e aeroportos mais movimentados passaram à iniciativa privada? Como é possível avançar? Essas três décadas nos permitiram construir um dos programas mais bem-sucedidos de reforma do Estado no mundo ocidental. Não estou falando só de emergentes, mas do hemisfério Norte, dos processos de revisão do Estado a partir do final dos anos 1980, iniciados na Inglaterra pela Margaret Thatcher [1925-2013], e que serviram de parâmetro inclusive para o Brasil.
O Brasil tinha como característica ser um Estado muito grande pelo modelo de desenvolvimento adotado a partir dos dois PNDs [Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1972 a 1974, e de 1975 a 1979, ambos no regime militar]. Não é à toa que construímos outro PND, propositadamente chamado Programa Nacional de Desestatização.
É importante ressaltar que a privatização no Brasil atravessou os governos de PSDB, PT, PMDB e o governo Bolsonaro, além de [Fernando] Collor, onde tudo começou, e Itamar Franco. No caso das privatizações, não tivemos plano de governo, mas de Estado.
Daqui para a frente, o total de ativos controlados diretamente pelo Estado é extremamente concentrado: Petrobras, bancos públicos [BB, Caixa e BNDES] e Correios; nesse último caso, algo relativamente pequeno.
O importante daqui para a frente é perseguirmos o amadurecimento institucional que envolva a regulação das empresas privatizadas no que tange ao controle de qualidade dos ativos vendidos e à ampliação da concorrência, para que todos os benefícios e a inovação do capital privado cheguem ao consumidor final.
Um dos pontos negativos é justamente a inconstância de uma atuação mais técnica e eficaz das agências reguladoras. Em alguns casos, há indicações políticas de membros e lentidão em decisões para ampliar a concorrência nos serviços. Como avalia isso? Houve diferentes fases. A Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações] foi montada de forma correta, com orçamento próprio, técnicos de primeira linha e antes da privatização.
Já a Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] surgiu no meio da privatização, e o processo ocorreu sem que se soubesse exatamente qual seria o horizonte final do setor. Mas também foi criada com técnicos de primeira linha, assim como a ANP [Agência Nacional do Petróleo].
Numa segunda fase, houve o aparelhamento político, em que as agências perderam seu espaço. Isso ficou muito claro especialmente no governo Dilma Rousseff [2011-2016]. Mais recentemente, no governo Bolsonaro, temos o não preenchimento de diversas vagas e quadros, o que vem inviabilizando as agências de fazer o trabalho de supervisão, controle e aprimoramento institucional.
Assim, a nova fronteira da privatização, a que os próximos governos têm de se dedicar, é justamente o aprimoramento do modelo institucional e regulatório. Pois isso é o que vai gerar eficiência no modelo econômico. Quando quebramos o monopólio público, o que se quer é competição e eficiência. Sem isso, temos a maior perversidade que existe, que é a transferência do monopólio público para o privado.
Sobre esses dois vetores, concorrência e eficiência, em quais setores avançaram mais e onde poderiam melhorar? Na energia, por exemplo, até hoje não temos um mercado livre para o consumidor residencial decidir de quem comprar a energia. No geral, temos agências para cada um dos setores e uma Lei das Agências. O que não temos é um avanço institucional. O Brasil tem condições de fazer mudanças nesse sentido, e isso passa pelo Congresso. Tudo o que envolve privatização tem de passar pelo Congresso ou por entes locais, como assembleias legislativas, para ser totalmente legitimado.
Entre avanços e retrocessos, temos uma Anatel que passou por momentos difíceis, mas que tem estrutura para melhorar. À Aneel claramente falta um elemento de mudança institucional que permita o aumento da competição. Mas a crise energética global e o aumento das energias alternativas vão forçar naturalmente essa evolução.
Com a Eletrobras agora privada, ela também estará mais permeável a um ambiente de competição. A institucionalidade que permeia o setor elétrico numa privatização de mais de 20 anos também está chegando a um nível de maturidade, com a convivência de entes privados locais, internacionais e capital financeiro.
Este mix permite uma competição sadia. Não vai ser nos próximos dois ou três anos, mas o vetor está indicando isso. Temos um copo mais cheio do que vazio nesse sentido.
As experiências vividas em setores como telefonia e energia também tendem a informar melhor os próximos passos em outras áreas, como na questão do novo marco para o saneamento. Este é um setor com menos competição, mas a experiência do que deu errado em outras áreas pode ajudar o regulador a estabelecer melhor quais são os compromissos, deveres e direitos dos novos concessionários, tanto do ponto de vista dos investimentos quanto do aspecto tarifário.
Sobre tarifas, há muita reclamação de usuários em alguns setores, sobretudo em energia e rodovias. Processos de privatização têm impactos tarifários. Isso é uma realidade global. Em alguns casos, eles são mais amplos, do ponto de vista de tarifas mais altas, seja por questões inflacionárias ou gargalos, ou por formas erradas de fazer a privatização.
Em algumas privatizações, quando mal modeladas, há recuos. Seja do ponto de vista da propriedade, que pode ser novamente encampada pelo setor público, ou quando, durante o processo de gestão, um reequilíbrio econômico-financeiro se torne necessário para que o negócio não quebre.
No governo Dilma houve um conceito, presente também em outros países, de modicidade tarifária no setor de rodovias. Um incentivo para gerar um certo subsídio na tarifa e muita exigência de investimentos, o que subvertia qualquer equilíbrio econômico-financeiro. Vimos isso em algumas rodovias e aeroportos. Foi o equívoco de colocar um elemento quase ideológico em um aspecto técnico.
No caso dos aeroportos, o modelo errou ao manter a participação de 49% da Infraero, uma empresa quebrada, e baseado em um crescimento de demanda que não aconteceu. Dilma foi mais ideológica no sentido de querer preservar tarifas artificiais no caso das rodovias e um ente público no caso dos aeroportos.
Mas, para sermos honestos, muitos acreditaram que o país iria crescer muito, tanto que essas estradas e aeroportos foram concedidos. Falhas em modelos existem em vários países. Portugal fez um programa de PPP (parcerias público-privadas) que deu errado, exatamente como no governo Dilma. Estimaram um crescimento enorme do país com a integração europeia e tiveram de devolver tudo [as concessões] porque não tiveram demanda.
O importante é que, quando houver falhas, os modelos sejam aperfeiçoados. O governo Bolsonaro herdou tanto a Lei das Agências Reguladoras quanto a Lei das Estatais [para tentar blindá-las de interferências políticas], além de regras para relicitações.
Mas estamos vendo o que acontece com a Petrobras [objeto de interferências de Bolsonaro] e com as agências, em que existe um vácuo de quadros. No caso das relicitações, não andou nada. Houve um trabalho para tentar, mas, por conta da institucionalidade e de aspectos jurídicos, não andou.
O ministro Paulo Guedes prometeu até R$ 1 trilhão em privatizações, mas não vimos disposição de Bolsonaro em mexer em estatais como Petrobras e Banco do Brasil. Há R$ 1 trilhão em ativos para privatizar? E como expandir privatização e concessões em áreas menos atrativas para o setor privado? R$ 1 trilhão em privatização é uma ficção eleitoral. Qualquer estimativa nesse valor teria de incorporar outros ativos da União, além de estatais.
A viabilidade disso levaria décadas, por exemplo, na parte imobiliária da União. Sobre ativos menos atrativos, alguns deles terão de ficar por algum tempo com o Estado, sendo bem geridos por agências ou ministérios até que se possa organizar o crescimento regional onde eles estão. Ou até o fechamento desses ativos.
Em vários países desenvolvidos, o Estado tem presença importante em algumas atividades. Mas é preciso que o cálculo de subsídios para elas esteja orçado e seja transparente, até que possam ser transferidas. Há casos em que simplesmente devem ser liquidadas.
A ideia de pegar um ativo bom e misturar a ele um podre, e assim tentar vender, pode não dar certo. Estaríamos criando dois tipos de problemas: não ter um melhor operador de saída; ou causar um problema à frente para um bom operador.
O que se pode esperar de um governo Lula ou Bolsonaro, hoje líderes nas pesquisas, em concessões e privatizações? Não vejo retrocesso na desestatização. Minha preocupação com os dois eventuais governos é com as agências e o aspecto regulatório. Esse é o elemento crucial para o avanço do processo.
Antes, precisávamos do BNDES, quase que exclusivamente, para fazer investimentos em infraestrutura. Agora, apesar de o mercado de capitais ter se desenvolvido muito nos últimos cinco anos no sentido do financiamento privado, ainda temos uma letargia no avanço das reformas regulatórias, na direção de maior competição geral e tarifária.
Nossa nova fronteira não é R$ 1 trilhão em privatização, mas o avanço na regulação. Para isso, tem de haver disposição política do Executivo de encaminhar ao Legislativo as reformas regulatórias necessárias.
Nenhum processo de privatização do mundo dá certo, seja para venda de ativos ou aprimoramento institucional, sem a anuência do Congresso Nacional. É isso o que a reforma do Estado significa nesse tema.
Tenho dúvidas de que isso será uma prioridade em qualquer um dos dois governos. Infelizmente, pois isso está ligado a um novo momento de crescimento do Brasil, que só avançará com uma infraestrutura modernizada. E o novo ciclo de investimentos não será estatal. Tem de ser privado.
LUIZ CHRYSOSTOMO, 58
é sócio e membro do conselho diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças. Ex-chefe do gabinete de Desestatização do BNDES no início dos anos 1990, coordenou a privatização da Telebras em 1998 e atuou, dentro e fora do governo, em 49 privatizações e concessões. Mestre e bacharel em ciências econômicas pela PUC-Rio, especializou-se em administração pela Wharton School (EUA). Foi diretor geral dos bancos de investimentos JPMorgan e Chase Manhattan.