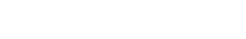A economia na pandemia, vista pelo realista esperançoso
À chatura do pessimista ou à tolice do otimista, meu quase-conterrâneo Ariano Suassuna dizia preferir um “realista esperançoso”. Pela contraposição ao traço meritório que “esperançoso” insinua, fica subentendido que, sem essa qualificação, o realista puro ainda é um bocado chato, embora menos insuportável que o pessimista. Encarnar o realista esperançoso, com sua chatura pé-no-chão temperada pela permeabilidade a evidências críveis de um cenário melhor, parece uma receita particularmente adequada à análise de fenômenos onde impera o desconhecido, como os desdobramentos econômicos da pandemia de Covid-19.
Os primeiros passos da pandemia foram inclementes com o realista esperançoso. Logo que surgiram notícias da epidemia em Wuhan, o que lhe pareceu mais ponderado foi conformar-se com o dano inevitável aos indicadores de atividade na própria China, e contemplar potenciais perturbações, além-fronteiras, em cadeias de produção mais dependentes de suprimentos chineses. Soava-lhe natural também que o sentimento econômico global sofresse algum abalo. Mas o máximo que o realista esperançoso ousava perguntar-se, após anos de bombardeio incessante por alarmes falsos (entre os quais redução de impulsos fiscais, Brexit, desmantelamento do NAFTA, desativação progressiva dos programas de afrouxamento quantitativo, tensões na península coreana, escalada no conflito EUA-Irã, guerra comercial EUA-China), era se não estávamos — agora sim, para valer — diante do choque capaz de dar fim ao já prolongado ciclo de expansão da economia mundial, e inaugurar mais uma desaceleração regular, periódica, da atividade econômica. No próprio cerne epidemiológico do problema, os surtos anteriores de SARS e MERS pareciam inspirar confiança na capacidade das autoridades sanitárias de, outra vez, conter o contágio no nascedouro, ao invés de servirem de alerta para o perigo planetário representado pelo surgimento repetido desses novos patógenos. O surto na Itália abriu-lhe rudemente os olhos: não seria apenas mais uma epidemia passível de supressão, nem o enésimo alarme falso para o ciclo econômico, e a recessão a caminho nada teria de ordinária.
Talvez compungido pela sua errônea tranquilidade inicial, o realista esperançoso tratou de carregar mais nas tintas negativas no momento em que a epidemia desembarcou no Brasil. A quem alegava que a concentração inicial do contágio em climas frios, corroborando regularidades sazonais de outras doenças respiratórias, sugeria o calor tropical como um poderoso escudo protetor, o realista esperançoso respondia que os padrões geográficos de contágio podiam, até então, ter muito mais a ver com a conectividade entre os principais hubs globais do que com o clima. A quem mencionava a menor participação de faixas etárias de risco na pirâmide demográfica brasileira, contrapunha condições laborais, habitacionais e sanitárias mais desfavoráveis para largas parcelas da nossa população. A quem se apegava aos números relativamente moderados da epidemia nas suas primeiras semanas de Brasil, alertava ser plausível aqui uma piora exponencial mais defasada que nos países europeus, à medida que o contágio fosse vencendo nossas maiores distâncias territoriais e encontrando condições sociais cada vez mais propícias à transmissão em larga escala.
Batata: o realismo, afinal, venceu a esperança. Partindo do número de fatalidades nos primeiros 30 dias de epidemia (contados a partir do 10º óbito), se tivéssemos seguido, entre aquele período inicial e os 85 dias subsequentes, a mesma distribuição temporal média dos cinco grandes países europeus (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido), teríamos chegado aos 115 dias com 8 mil fatalidades — e não com as 72 mil efetivamente registradas. Todos aqueles países atingiram o pico de mortes diárias entre os 25 e os 40 dias de epidemia, e passaram a exibir queda rápida a partir dali; no Brasil, o crescimento dessa contagem só se deteve por volta do 65º dia, estacionando num platô de cerca de 1.000 mortes diárias pelos 50 dias decorridos desde então. Nossas curvas epidemiológicas ficaram longe de desenhar o “V” invertido característico dos pioneiros europeus.
Depois desse percurso em que viu sua capacidade preditiva passar por altos e baixos, o que arriscaria dizer nosso realista esperançoso? Mesmo calejado por experiências que deram mais razão às cautelas do que às complacências, creio que esteja disposto a chamar atenção para alguns elementos alentadores, no mundo e no Brasil, diante do quadro bastante triste e desafiador que se formou. Não se trata de esperanças acalentadas desde o início — por exemplo, de que uma vacina estará disponível em larga escala em 2021 — e que se mantêm, mas de surpresas positivas mais recentes. São duas.
A primeira diz respeito ao tamanho do impacto econômico da crise de saúde já observada: depois de um grande baque imediato, o lado da demanda parece ter encontrado elementos de sustentação mais firmes do que se imaginava. Uma surpresa análoga já ocorrera do lado da oferta, que escapara dos cenários mais dramáticos de desabastecimento generalizado de mercadorias e de precarização da prestação de serviços de toda sorte.
Dentre esses fatores de sustentação da demanda, os que já têm os efeitos mais visíveis — e maiores do que se esperava — são os programas de suporte à renda das famílias implementados em diversos países, quer mediante transferências extraordinárias aos mais vulneráveis (como o nosso Auxílio Emergencial), quer pela facilitação temporária do acesso à rede de proteção social preexistente (como o nosso Benefício Emergencial). Economistas acadêmicos e de mercado têm coincidido em estimativas que creditam a esses programas, tanto no Brasil quanto em outras economias, uma compensação quase plena, plena, ou até mais do que plena — nos números agregados, claro, não em cada situação individual — das perdas de renda do trabalho causadas pela epidemia. A despeito do desapontamento, no Brasil, com esquemas creditícios diretamente endereçados ao tomador final, medidas para impedir que o mercado de instrumentos de crédito entrasse em franca convulsão também devem ter dado enorme contribuição à resiliência da demanda. Seus benefícios são menos distinguíveis a olho nu, contudo, por só serem mensuráveis em relação a cenários hipotéticos, muito piores, que não se materializaram. São como o cão que não ladrou na estória de Sherlock Holmes.
Distanciamento social mandatório ou espontâneo e insegurança a respeito dos rumos da economia parecem ter pesado sobre a demanda para além de qualquer escassez imediata de recursos financeiros, e segmentos relevantes de consumidores conseguiram inclusive acumular poupança extra bem no auge da crise. Determinados setores — serviços que exijam interação presencial com os prestadores ou convivência com outros clientes — sofrem desproporcionalmente pelo distanciamento social, mas outros vêm conseguindo nadar contra a maré vazante da crise, apoderando-se inclusive de parcelas do orçamento familiar deixadas ociosas pela súbita mudança de hábitos. Enfim, consumidores têm se demonstrado mais dispostos a retomar atividades habituais do que se imaginava — em alguns casos, até mais do que o recomendável do ponto de vista sanitário, como salta aos olhos na reabertura dos cafés parisienses, dos pubs londrinos e dos bares do Baixo Leblon. Em suma, os fundamentos econômicos da demanda parecem mais preservados do que, até há pouco tempo, se supunha que fossem estar nesta altura.
É aí que entra a segunda boa surpresa, relativa à dinâmica epidemiológica propriamente dita. O que muito se temia é que a reabertura de economias inicialmente sujeitas a quarentenas mais ou menos rigorosas deflagrasse uma forte guinada altista das curvas epidemiológicas — a célebre “segunda onda”. A sensação que vai se disseminando, pouco a pouco, é de que a propensão a uma guinada desse tipo é mesmo grande em regiões que não tenham passado ainda por um primeiro surto muito intenso, mas bem menor onde a primeira onda já tenha sido grave. Não se têm ainda estudos que, como o devido rigor estatístico, isolem essa distinção de outras possíveis variáveis explicativas da desigualdade de desempenho. Mas aí estão capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Manaus, cuja primeira onda foi mais intensa e que — para confessada perplexidade do realista esperançoso — reabriram em condições muito aquém das ideais sem que a tendência de melhora de seu quadro epidemiológico sofresse, até agora, o temido revertério. Enquanto isso, Minas Gerais e as regiões Sul e Centro-Oeste, cujas primeiras ondas foram relativamente amenas, entraram em franca aceleração de novos casos e fatalidades depois de reabrirem. A Argentina vai pelo mesmo caminho que o Sul do Brasil, como já fora antes dela o Chile. Na Europa, Portugal destoa pela reaceleração pós-abertura, depois de ter sido exemplar na contenção do surto inicial, enquanto os países mais castigados pela primeira onda vêm lidando com surtos localizados, mas mantendo suas curvas epidemiológicas sem alteração notável apesar de episódios de mau comportamento sanitário. Nova York e estados contíguos, epicentro da primeira onda nos Estados Unidos, também continuam registrando melhora nos números, e agora são os estados do Sul, antes poupados, que lideram o recrudescimento nacional da epidemia.
Se as populações mais afetadas pela primeira onda tivessem alcançado os limiares de “imunidade de rebanho”, originalmente estimados na faixa dos 60% de habitantes infectados e recuperados, essa diferenciação não causaria surpresa alguma. O curioso é que, nas diversas pesquisas aleatórias já realizadas no Brasil e no exterior, índices de soroprevalência da ordem de 20% já são objeto de grande destaque; para várias áreas cujas primeiras ondas foram substanciais, e que parecem ter conseguido fazer alguma reabertura sem sofrer uma recaída, os resultados estão até bem abaixo disso. Há diversas hipóteses capazes de explicar, em teoria, imunidade de rebanho a taxas mais modestas de soroprevalência: heterogeneidades populacionais de origem genética ou comportamental, ou nas condições de saúde preexistentes, ou ainda na imunidade cruzada por exposição anterior a outros vírus, além de mecanismos do sistema imune, para os já infectados pelo SARS-CoV-2, que passem ao largo dos anticorpos detectáveis pelos testes sorológicos convencionais. Soroprevalências nos níveis mais elevados já registrados podem estar longe de autorizar uma completa volta à normalidade, mas ser suficientes para compatibilizar matematicamente o controle da dinâmica epidemiológica com alguma reabertura, mantida a observância rigorosa de uma série de medidas de prevenção do contágio. Que hipóteses desse tipo venham ganhando maior receptividade por parte dos epidemiologistas e da grande imprensa atesta uma surpresa relevante a respeito da propensão à recaída entre regiões já vitimadas por uma primeira onda severa.
Nada disso quer dizer que o quadro seja bom: o desastre sanitário e econômico continua sendo tremendo e ainda causará muito sofrimento e prejuízo antes de acabar. Tampouco afasta os riscos amplamente reconhecidos que cercam a sustentabilidade das dívidas públicas na esteira do imenso choque fiscal provocado pela pandemia, ou as dificuldades envolvidas na recuperação ou reestruturação de empresas e setores mais fragilizados. Dar carta branca para afoitezas no relaxamento das medidas não-farmacológicas de contenção, menos ainda. Em particular, não oferece garantias definitivas sobre confiabilidade, durabilidade e universalidade da imunização de recuperados, ou contra a eventual mutabilidade genética do vírus. Confirmando-se, porém, esses sinais de alento querem sim dizer que uma estória já muito ruim pode ter uma continuação bem menos ruim do que se vinha prevendo. São sinais benignos ainda preliminares, e sinais benignos preliminares já demonstraram — por exemplo, ao sugerirem a possibilidade de contenção da epidemia na origem e, depois, um impacto mitigado no Brasil — como podem ser traiçoeiros. Mas os que surgem agora são do tipo cuja ponderação cuidadosa, dando-lhe ou não razão ao final, proporciona ao realista esperançoso pelo menos uma esperança: a de um horizonte perante o qual a pura tolice não seja a única alternativa à simples chatura.
*Eduardo Loyo é economista e sócio do BTG Pactual