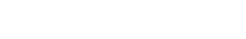A gente precisa de moderação também dos poderes
Ao ser convidado para almoçar, o economista Ilan Goldfajn faz uma brincadeira: “Depende do que vocês forem servir à mesa”. Comer bem é uma das suas paixões, exercitada ultimamente com parcimônia, não por falta de apetite, mas por cautela. A única exigência é um restaurante com área aberta. “Ao contrário do que se achava no começo da pandemia, o risco maior não são os perdigotos, e sim os vírus que estão no ar.” É todo comedimento quando sabe que não vai pagar a conta. “Qual é o orçamento? Não quero abusar.”
Ilan se autodefine como um moderado, e não poderia escolher palavra melhor. Ortodoxo, convive em harmonia no grupo de WhatsApp de ex-colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um reduto de heterodoxos. Quando esteve à frente do Banco Central, foi chamado tanto de “hawk”, um defensor de juros altos, como de “dove”, um partidário de juros baixos. Participou de dois governos de partidos diferentes, porém nunca foi filiado a nenhum e não revela em quem votou nas eleições presidenciais.
Mas ele vai à luta. Em 2016, manteve a política monetária apertada em meio a uma das maiores recessões da história, apesar do desgosto de seus colegas na equipe econômica e das críticas até de amigos ortodoxos, com a convicção de que esse era o remédio adequado para quebrar a espinha dorsal da inflação. Mais recentemente, já como presidente do conselho do banco Credit Suisse no Brasil, engajou-se ativamente na organização de um manifesto de empresários, banqueiros e intelectuais que prega o respeito ao resultado das eleições de 2022, numa resistência aos ataques do presidente Bolsonaro ao regime democrático.
É a versão cautelosa de Ilan que chega de máscara ao Le Jazz do Shopping Iguatemi, na avenida Faria Lima, e nos cumprimenta com soquinhos de punho fechado. Ocupamos uma mesa no canto na varanda. “Esse é meu protocolo”, explica. “Sou medroso, quase paranoico.” Mesmo vacinado, ele vai ao banco só uma vez por semana, o resto do trabalho ainda é todo feito de forma remota. “Se pode ser por vídeo, faço por vídeo.” Seu pai, Jose Jayme Goldfajn, morreu em dezembro vítima da covid, em Israel, onde vivia desde 2010. Com muita dificuldade pelo lockdown, Ilan retornou ao país onde nasceu para passar uma temporada com a mãe, Cyla. Tomou por lá as suas duas doses da Pfizer.
A ideia de uma declaração pública pela preservação das instituições democráticas nasceu no começo de agosto num grupo de conversas no WhatsApp, e Ilan circulou a ideia num outro, o do Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP), do qual é diretor. Bolsonaro, naquele momento, vinha defendendo a aprovação de uma lei reinstituindo o voto impresso e insinuava que, se ela não fosse adiante, poderia não haver eleição em 2022. “Muita gente disse que estava dentro do manifesto, e eu vi que ia dar samba.” Ilan não revela quem redigiu o texto. Em poucos dias, o documento já havia sido assinado por mais de 25 mil pessoas e foi entendido como um basta do poder econômico contra a aventura autoritária.
“Estou envolvido como cidadão. A gente precisa de moderação também dos poderes. Não sou daqueles que passam o dia achando que vai ter alguma ruptura, sabe? Mas começo a perceber que, de fato, há conflitos. Vai ter eleição, mas não vai aceitar o resultado porque a urna não presta? Vai ter impeachment de ministro do Supremo? Começam as brigas. E isso começa a ter impacto na vida da gente.”
Ilan diz ter dois tipos de preocupação. Primeiro, com o funcionamento das instituições para que cidadãos possam exercer os seus direitos fundamentais, como a liberdade e a prerrogativa de escolher os seus representantes. Outra preocupação é com o impacto da crise institucional na economia. “Já está afetando, a gente vai ter menos crescimento em 2022. Olha o dólar. O câmbio há alguns meses poderia ter se apreciado, quando o preço das commodities explodiu. O dólar não caiu porque começaram as dúvidas. De um lado, temos o fiscal. Está todo mundo falando sobre como serão pagos os precatórios, se vai ficar dentro ou fora do teto de gastos. De outro, o problema institucional. Como é que alguém vai investir no Brasil? O investidor olha e se pergunta: vai ter estabilidade? O juro vai ser de um dígito ou de dois dígitos? Como você responde aos estrangeiros que perguntam se o Brasil vai ser uma Argentina ou Venezuela? A gente diz: não tem problema. Mas outros dizem: ‘sei lá’.” Os próprios brasileiros, afirma, já fazem o cálculo de quanto do patrimônio vão deixar dentro do país e quanto vão deixar no exterior. “Quando a gente tinha o juro alto, o investidor aguentava desaforo. Ele olhava, suspeitava que poderia ter problemas em 2022, mas decidia surfar um pouco na taxa Selic de 14%, mais spread de 5%, pelo menos enquanto estivéssemos em 2021. Agora, vai embora.”
O Le Jazz, a esta altura, já está com a varanda cheia, muitos da Faria Lima, o símbolo do mercado financeiro no país. É inevitável perguntar se os “faria limers”, que haviam apoiado em peso a eleição de Bolsonaro em 2018, não iriam de novo ficar ao lado do presidente no ano que vem, caso sejam confrontados com Lula como alternativa no segundo turno. “Não há a opinião única da Faria Lima. A Faria Lima se junta apenas na vontade de que o Brasil dê certo, a bolsa suba, os juros caiam, os investimentos prosperem e todos ganhem dinheiro. Mas os investimentos só dão certo quando não há ruído. Então tem a Faria Lima dos traders, dos mais jovens, que hoje ainda discutem se o ministro [da Economia] Paulo Guedes é ou não a garantia que vai dar estabilidade.” E há a Faria Lima do topo: nesta semana, os banqueiros reunidos na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) foram os vocais defensores da publicação de um novo manifesto pela harmonia entre os três poderes, mesmo quando a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) recuou.
Por enquanto, estamos tomando apenas água com gás, num dia seco do inverno paulistano. Chegam os cardápios, e Ilan escolhe como entrada uma sopa de cebola. “É a melhor de São Paulo”, diz Ilan. “Esse é o meu problema, adoro comida.” Como prato principal, um filet au poivre e, para beber, um suco de tangerina.
Filho de brasileiros, Ilan nasceu em Haifa, Israel, em 1966. Idealistas, os seus pais foram trabalhar num kibutz, a experiência comunitária e coletiva do Estado israelense, em muitos aspectos parecida com as fazendas e indústrias coletivas soviéticas. “Naquela época, era bem radical e durou apenas um ano e pouco para meus pais. Cada um podia ter apenas um número determinado de bens de consumo. Minha mãe chegou com um vestido a mais, e leiloaram esse vestido. Leiloaram o aparelho de barbear do meu pai. Eles concluíram: ‘Isto aqui não é para a gente’.”
Os avós de Ilan vieram ao Brasil da Polônia em duas levas migratórias diferentes, uma no começo do século passado e outra depois da Segunda Guerra Mundial. Do lado materno, Szyza Pech fugiu da invasão nazista para a União Soviética e, anos mais tarde, foi condecorado como herói por transportar clandestinamente judeus no fundo da carroça em que fazia comércio ilegal na fronteira. Descoberto pelos russos, foi mandado para a Sibéria. Tomaram o caminho do Brasil depois do fim da guerra, ao constatar que a casa e todo o patrimônio havia sido destruído na Polônia.
Ilan se mudou com a família para o Rio pouco depois de fazer o bar mitzvah, a cerimônia judaica que marca a passagem para a vida adulta, aos 13 anos. Estudou primeiro na escola americana, na Gávea, e depois no Colégio Israelita Brasileiro A. Liessin, em Botafogo. Voltou a Israel aos 18 anos, para uma experiência própria num kibutz. Como falava hebraico, foi designado como líder do grupo de brasileiros e tinha o trabalho destacado de apertar os botões da máquina que envasava suco de laranja para ser exportado. “Apertei duas vezes o botão, por engano, e foi suco para todo o lado. Me colocaram para fazer outra coisa.”
De volta ao Brasil, escolheu estudar economia na URFJ simplesmente porque era bom de matemática e gostava de história. “Quando passaram quatro anos, eu decidi que queria entender economia de fato, não estava entendendo nada. Entendia muito da história do pensamento econômico, conhecia Marx, Adam Smith, Kalecki, todo esse pessoal. Mas eu queria modelo econômico, aplicar a economia na prática.” Decidiu cruzar para a PUC-Rio, conhecida por sua ortodoxia, um polo oposto à UFRJ. O ambiente intelectual na PUC-Rio fervia, com a participação de alguns de seus professores na elaboração dos planos econômicos para acabar com a hiperinflação. “Eu fui o traidor”, brinca. “Mas convivo bem com os colegas da UFRJ, o que é fantástico, gosto muito.”
Na PUC-Rio, encontrou o seu primeiro mentor, o professor Dionísio Dias Carneiro, que morreu cedo. “Ele tinha um verdadeiro prazer de bater papo em sua sala, discutir os assuntos do momento, de rir, contar piada.” O primeiro artigo acadêmico de Ilan foi com o próprio Dionísio, sobre como funcionaria um mercado secundário para negociar o dinheiro que foi bloqueado no Plano Collor. A dissertação de Ilan foi sobre os meandros do funcionamento do mercado monetário e da dívida pública. Pediu conversas com tesoureiros de bancos para saber como as coisas funcionavam na prática. “Eu devia ser um chato, fazia perguntas para tentar entender a teoria que estava por trás da prática, e estava lá o cara interessado em fazer aquilo apenas porque queria ganhar dinheiro.”
Um dia, a mulher de Ilan, Denise, atende o telefone, e do outro lado está alguém arranhando o português com um sotaque alemão carregado: “Aqui é o Dornbusch, eu quero falar com o Ilan”. Denise, psicóloga, tinha familiaridade com Rudi Dornbusch, autor do livro-texto então mais popular entre os estudantes de economia, em parceria com o economista Stanley Fischer, ambos professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ela não acreditou. “Deixa de sacanagem, porque eu sei quem é o Dornbusch, é o cara do livro de economia.” Ilan tinha se submetido ao processo de seleção para o doutorado em universidades americanas, e estava decidindo qual escolher entre as que havia sido admitido, numa lista que incluía instituições como Harvard e Princeton. Dornbusch conseguiu convencer Denise a, pelo menos, avisar Ilan que voltaria a ligar num horário combinado.
Ilan foi ao MIT, e pesou na escolha ter recebido o telefonema do autor do livro-texto, que tinha conhecimentos de português porque foi casado com uma economista brasileira, Eliana Cardoso. Também contribuiu o fato de a linha da escola pender mais para a ciência aplicada nos temas macroeconômicos, com uma pegada em políticas públicas. Há nos EUA duas grandes vertentes. As “saltwater”, ou água salgada, são as universidades que ficam perto do mar, como o MIT, a que primeiro desenvolveu os modelos que mostram que há rigidez de preços. E esse detalhe pode dizer em que lado você está no campo econômico. “Ninguém entendia por que os preços não eram completamente flexíveis. Isso na teoria faz muita diferença. Se você tem rigidez de preços, a teoria te dá um motivo para ter política fiscal, política monetária. Se o preço for completamente flexível, laissez faire, a economia se adapta imediatamente ao pleno emprego sem precisar de intervenção governamental.” Essa outra vertente era defendida pelas universidades “freshwater”, ou água doce, por ficarem perto de grandes lagos, com destaque para Chicago.
Em qual das vertentes Ilan se encaixa melhor, a da intervenção do governo ou do “laissez faire”? “Eu estudei na escola que a gente chama de keynesiana. Entendo a administração pública, ir para o governo, como o papel de moderar. Para ser um regulador, no BC, tem que atuar de forma equilibrada. Não radicaliza nem para um lado nem para o outro. Deixar o mercado competir, brigar. Vejo o papel do governo. O papel moderador é deixar os mercados funcionando, mas nunca soltos o suficiente para ir aos extremos. A gente sabe que os mercados, sozinhos, podem levar à concentração, a que não tenha competição.”
Antes de embarcar para Massachusetts, Ilan e Denise tiveram que lidar com uma questão prática: casar. “A gente vivia junto, mas não estava casado, achava uma instituição falida, naquela cabeça de kibutz”, conta Ilan. Fizeram uma cerimônia pequena, com apenas três convidados, na casa dos pais de Ilan, que ficaram decepcionados por não fazer um casório na sinagoga. Dois convidados foram colegas na UFRJ: o atual presidente do Insper, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica; e o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, ex-diretor do Banco Central. “Minha mulher brinca até hoje que casamos apenas para ela pegar o visto americano.”
No MIT, Ilan teve dois outros grandes mentores. Um, o Dornbusch, que ele considerava mais controvertido, e Fischer, mais moderado. Mais tarde, Fischer, que ocupou o segundo posto mais importante no Fundo Monetário Internacional (FMI), convidou Ilan para integrar um núcleo de pesquisas sobre países emergentes no departamento de mercados de capitais. “Eu comecei na pesquisa, depois deu aquela coceira, eu tinha que fazer alguma coisa na prática. Aí fui nas missões do FMI na crise da Ásia, para a Coreia e Indonésia.” Depois de uma década nos Estados Unidos, ele voltou ao Brasil, como professor da PUC-Rio. Lá, foi chamado para ser o diretor de Política Econômica do Banco Central na gestão Arminio Fraga, substituindo Sergio Werlang, em 2000. “O Arminio foi um novo mentor.” Nessa época, viveu de crise em crise, primeiro do racionamento de energia elétrica e, depois, nas eleições presidenciais. “Jantávamos todos juntos, na diretoria do BC. E toda a semana a gente se reunia no Palácio do Planalto, com Pedro Malan, Pedro Parente, os ministros da área econômica. O Arminio levava toda a diretoria do BC. A gente discutia todo o tipo de política econômica. Vivemos as crises, mas era agradável.”
Nessa altura, a sopa já chegou, no caso de Ilan e da fotógrafa, e uma salada chèvre chaud, no caso do repórter, que pergunta como foi a transformação de sair do ambiente protegido na equipe de Arminio, que funcionava como um escudo, para a artilharia aberta quando ele próprio se tornou o presidente do BC, no governo Temer. Ele conta que, no topo, as decisões são mais solitárias, e relata momentos difíceis.
O primeiro foi em meados de junho de 2016, quando a inflação estava perto de 11% e o Banco Central tinha que decidir se mantinha a meta de inflação do ano seguinte, de 6,5%, ou se ia buscar um objetivo ajustado mais alto. Ilan já contou essa história várias vezes, dizendo que tomou a decisão correta de manter a meta. Mas o que ele não havia contado até agora é que ficou em dúvida. “Às vezes, quem olha de fora acha que o governo já tem uma verdade fixa, um rumo já tomado. Eu fiquei na dúvida, porque não dá para ajustar a meta no meio do caminho, decidir depois.” No fim, o diagnóstico foi que a inflação estava fora do lugar, não devia ser assim porque a economia estava numa brutal recessão, descolada do resto do mundo, e o real estava se valorizando, depois que Temer assumiu. “Era uma inflação causada pelas expectativas.” Ou seja, os preços subiam de forma acelerada sobretudo porque empresários e trabalhadores achavam que iria continuar subindo no futuro.
O segundo momento de tensão foi quando o Banco Central manteve os juros praticamente parados ao longo do segundo semestre de 2016, em meio à recessão. “A gente já estava num processo de flexibilização, só que era uma flexibilização mais lenta do que os mercados queriam. Os mercados, ao contrário do que conta a percepção popular, gostam quando o BC baixa os juros, porque o mercado é liquidamente aplicado em dívida pública”, disse. Na época, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pressionou por juros menores? “O ministro da Fazenda, e não estou falando do Meirelles, qualquer um, faz a política fiscal, procura consolidar o fiscal, mas quer ver a economia crescendo. É o objetivo deles.” Já o Banco Central olha além do curto prazo, por isso a decisão foi ancorar bem as expectativas antes de flexibilizar a política monetária, para ter um ganho duradouro de inflação e juros baixos.
Nessa época, o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore foi um dos críticos do excesso de conservadorismo do BC, que estava jogando a economia cada vez mais para baixo. Com tantas vozes influentes dizendo que estava errado, Ilan não ficou em dúvida, com medo de levar a economia a uma depressão? “Quando a gente chega ao governo, tem que ter algumas convicções, algo que você acredita. Eu já havia visto a política monetária, já havia visto como se ancora as expectativas, tinha estudado muito o regime de metas de inflação. Tinha gente muito boa na equipe do Banco Central. Você não pode ser levado pelo mercado. No ano passado, o Banco Central foi muito pressionado para levar os juros a zero, fazer expansão quantitativa. Ainda bem que não fizeram. Acho que houve um erro, podia ter parado antes na baixa de juros, mas pelo menos não levaram lá embaixo. Os problemas nesse ano seriam piores. O Pastore, depois, reconheceu que estávamos certos, ele é muito correto. Muita gente não reconheceu até hoje.”
A conversa caminha para a situação atual do Banco Central, chefiado por Roberto Campos Neto, que também vive um momento de pressão. “É sempre muito difícil, com muita coisa acontecendo fora do seu controle direto: as questões fiscais, os precatórios, como fazer o Bolsa Família. E acho que, no ano que vem, o ambiente internacional vai estar pior, com o processo de tapering pelo Fed”, diz, referindo-se à esperada redução na compra de ativos no mercado pelo BC americano.
E o Banco Central está conduzindo bem a política monetária? “A política monetária está reagindo à inflação crescente. A única coisa que eu diria é que você tem que ter a convicção de não ir com o mercado. O mercado vai sempre pedir um pouco mais. Primeiro, o BC surpreendeu com uma alta de 0,75 ponto percentual, quando o mercado queria 0,5 ponto. Depois, fez 1 ponto. Se você fizer isso, o mercado não vai parar de pedir mais, basta a inflação ser um pouco pior. Às vezes a inflação piora só durante algum tempo. A velocidade da inflação e da economia não são a velocidade do mercado. O importante é o Banco Central, mais ou menos como fez agora, manter a postura de que vai fazer o que for preciso para levar a inflação para a meta.”
Ilan pede um chá de hortelã. Ele tem passado a pandemia assistindo aos filmes e séries que todo mundo está vendo, como “O Método Kominsky”, “O Gambito da Rainha”, “La Casa de Papel” e algumas com uma pegada mais israelense, como “Shtisel” e “Fauda”, que faz sucesso também na Palestina. “Vi o documentário do Bussunda na Globoplay, emocionante para quem é da minha geração.”
Sua leitura mais recente é “The Power of Creative Destruction” (numa tradução livre, “O poder da destruição criativa”, de Phillipe Aghion, um professor do College de France). “O crescimento de um país depende de quanto as pessoas estão dispostas a inovar, a investir em coisas novas. O país cresce porque inventou o carro, o iPhone, o Zoom. Antigamente, se achava que o crescimento acontecia com a acumulação de capital. O governo tem um papel para proteger o capitalismo do próprio capitalismo. O perigo é que o cara que inovou, inventou o iPhone, não vai querer deixar ninguém inventar mais nada. Nós temos que impedir que haja protecionismo. É o contrário do Brasil. A gente fechou o Brasil e não consegue fazer mais nada.”
Estamos nos preparando para levantar da mesa, e o papo entra em amenidades. Nos momentos mais críticos da pandemia, a família de Ilan decidiu dispensar a empregada e passou a dividir as tarefas domésticas. “Eu estava convicto que fazia 20% do trabalho. Um dia a turma lá em casa me chamou e disse não, eu estava fazendo menos do que 20%.” Lamentou não ter tido a ideia, como o repórter, de comprar pratos, copos e talheres coloridos. “Na hora de tirar a mesa, tem sempre alguém que desaparece.” Em casa, ele é uma espécie mais radical de Anthony Fauci, o consultor para a pandemia da Casa Banca. Ilan define protocolos, é quem sabe das vacinas e de todas as medidas de segurança. Com isso, os Goldfajn estão adotando uma forma meio diferente de distanciamento social. “Minha filha foi para o Rio, meu filho está no exterior”, ri de si mesmo. “Ninguém me aguentou.”